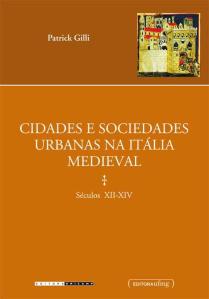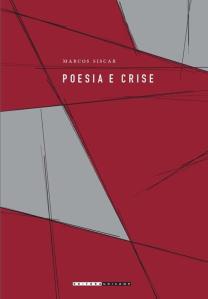Poesia
e técnica – Poesia Concreta
[notícia bibliográfica ao final]
Os anos finais do Império e as duas primeiras décadas da República
(proclamada em 1889) foram o momento de esplendor da poesia parnasiana no
Brasil.
Dá-se, nessa época, um fenômeno sem precedentes a história
cultural do país: o escritor profissionaliza-se, principalmente por meio do
trabalho nos jornais, e ganha estatuto de figura pública de relevo; a vida
literária se torna centro de atenção mundana e, mesmo, de definição da moda; a
norma linguística, a construção de um padrão culto de língua, especialmente
depois da República, ganha o centro das atenções e dos debates, como
instrumento de civilização e unidade nacional; ao mesmo tempo, a literatura
institucionaliza-se, processo que, sob a liderança de Machado de Assis, conduz
à fundação, em 1897, da Academia Brasileira de Letras, da qual o grande
romancista seria o presidente vitalício. De modo que, se quiséssemos retomar os
termos em que
Antonio Candido narrou a história da literatura brasileira,
teríamos de celebrar o momento parnasiano como aquele no qual essa literatura
já estaria plenamente constituída como um sistema no qual se integram o autor e
o público, por meio de um estilo e de uma temática amplamente difundidos e
aceitos como ideal de cultura.[1]
Logo após a Primeira Guerra Mundial, entretanto, com a
eclosão do movimento modernista que teria como marco a Semana de Arte Moderna,
realizada em 1922, a
prosa e a poesia do momento parnasiano e realista – e especialmente a poesia –,
passam a ser objeto de ataques por parte dos novos escritores, identificados
com os ideais da vanguarda europeia. O momento emblemático do Modernismo, a
Semana, pode ser visto também como aquele no qual se inaugura, depois da
integração parnasiana, uma nova fase na cultura nacional, a das vanguardas, cuja
característica mais evidente, do ponto de vista da recepção, é o divórcio entre
o escritor e o público. As vaias que ali se produziram são, sem dúvida, uma
recusa ou resistência estética ao novo; mas são ainda o protesto contra o
rompimento do que a pequena burguesia talvez visse como um pacto cultural, na
medida que os jovens vanguardistas abandonavam e desqualificavam ruidosamente os
ideais e valores literários apresentados como caminho de civilização nos primeiros
anos da república. Daí que esse público em grande parte se mantivesse fiel aos
autores parnasianos e hostil ou indiferente aos modernistas da primeira
geração. E daí também que as ressurgências parnasianas marquem a história da
poesia brasileira até os dias de hoje.
A partir de 1930, com o que, no Brasil, se convencionou
denominar Geração de 30, a
literatura modernista conquista maior público. É o momento no qual ganha
terreno o romance nordestino e a poesia em verso livre. O
momento de Jorge Amado e Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade e Cecília
Meireles, para só mencionar os mais conhecidos.
Já em 1945, com o final da Segunda Grande Guerra, de certa
forma encerra-se o período modernista, ganhando a cultura brasileira uma nova
configuração, na qual a literatura não parece mais ocupar lugar privilegiado na
definição dos rumos da cultura nacional.
No campo literário, a nova geração que por essa época começa
a afirmar-se – denominando-se justamente, para marcar o período pós-guerra, “Geração
de 45” –
apresenta clara nostalgia classicizante – de acordo, aliás, com uma tendência
mundial no segundo pós-guerra – e promove uma espécie de revival parnasiano, no tom do discurso e no renovado interesse
pelas formas fixas da tradição poética de língua portuguesa. Mas já não há
sombra do momento de esplendor do sistema cultural dos primeiros tempos
republicanos, e a sensação geral, que será aprofundada dramaticamente nos anos
de 1950, é a de que a característica do novo tempo é o desaparecimento de um
público amplo interessado na literatura.
Esse tema percorre de tal forma a reflexão sobre a poesia na
segunda metade do século XX, especialmente a reflexão desenvolvida pelos
poetas, que parece difícil apreender o real movimento da recente literatura
brasileira – especialmente o da poesia – sem dar a ele a devida importância.
É esse o foco do presente artigo, que começa pela
consideração das proposições do mais significativo dos poetas surgidos em 1945,
João Cabral de Melo Neto e prossegue com a análise da resposta da Poesia
Concreta aos desafios do tempo, com foco na questão da especificidade e lugar
da poesia no mundo dominado pela tecnologia e pela indústria cultural
I. Cabral e a função da poesia moderna
Em 1954, como parte das comemorações do aniversário de 400
anos da cidade, reuniu-se em São Paulo um grande Congresso Internacional de
Escritores, promovido pela Comissão dos festejos e patrocinado pela UNESCO.
Na seção consagrada à discussão da poesia, o balanço do
momento foi feito por Aderbal Jurema, numa comunicação lida no dia 11 de
agosto, intitulada “Apontamentos sobre a niponização da poesia”, na qual
afirmava que a novíssima geração reagia mal aos desafios do tempo moderno.
Segundo ele, os novos adoravam uma atitude reativa: ao invés de viverem plenamente
o “drama nas fronteiras da técnica”, refugiavam-se num “artesanato suicida”,
que distanciava a poesia do público e só lhe reservava um lugar na “camaradagem
do suplemento dominical”.
O tema da perda do público
percorre a maior parte das falas do Congresso dedicadas à poesia, independente
da nacionalidade do orador. O que dá cor específica à fala dos brasileiros é a
ênfase na relação causal entre o divórcio autor/público e o crescimento dos
novos meios de comunicação de massa, a percepção de que existe uma feroz
concorrência entre a cultura erudita e cultura de massas, com desvantagem
notória da primeira:
Será normal
que o artista atual, porque não deseja imiscuir-se com as formas inferiores, ou
porque receia que os novos métodos de difusão comprometam a sua dignidade, será
normal ao artista eximir-se de participar, fugir à realização, silenciar, não
concorrer? Parece-me que não e o seu dever é adaptar-se às novas condições,
salvaguardando naturalmente a sua integridade e a qualidade dos seus padrões...
Se os novos meios se considerarem obras diabólicas, fugir, isolar-se deles, é
abandoná-los ao diabo. Não é esse o dever do espírito, mas sim vencer o
príncipe das trevas.[2]
Assim se expressava, a propósito, Afrânio Coutinho, um dos
mais reconhecidos homens de letras do país.
Na mesma época, a concorrência
entre as artes e a indústria cultural mereceu a atenção analítica, de outro
crítico de grande expressão, Antonio
Candido, que abordou o problema num texto publicado em duas
partes – uma no ano anterior e outra no ano seguinte ao Congresso – e que se
intitulou “Literatura e cultura de 1900 a 1945”[3].
Nesse texto bem conhecido,
Candido afirmava que, a partir de 1930, tinha sido sensível o aumento do
público de literatura, devido à melhora da educação e à diminuição do
analfabetismo. Entretanto, dizia, “esse novo público, à medida que crescia, ia
sendo rapidamente conquistado pelo grande desenvolvimento dos novos meios de
comunicação”, entre os quais nomeava o rádio, o cinema e as histórias em
quadrinhos.
E continuava:
Antes que a
consolidação da instrução permitisse consolidar a difusão da literatura
literária (por assim dizer), estes veículos possibilitaram, graças à
palavra oral, à imagem, ao som (que superam aquilo que no texto escrito são
limitações para quem não se enquadrou numa certa tradição), que um número
sempre maior de pessoas participassem de maneira mais fácil dessa quota de
sonho e de emoção que garantia o prestígio tradicional do livro.[4]
Por fim, apontava o crítico as
respostas extremas à situação: a tentação da busca de comunicação com o público
por meio da aproximação da literatura com o relato direto da vida, para
concorrer com o rádio ou o jornal, ou o aprofundamento da singularidade do
literário, restringindo ainda mais o acesso a ela por parte do público geral.
O problema da expansão e
conquista do público estava na ordem do dia. Desde 1952, tinha merecido a
atenção do poeta mais significativo dentre os que estrearam na década de 1940,
João Cabral de Melo Neto. Naquele ano,
numa conferência intitulada “Poesia e composição”, proferida na Biblioteca
Municipal de São Paulo – local emblemático do Modernismo –, Cabral tinha também
se ocupado do problema da comunicação na literatura do pós-guerra, centrando-se
na questão da poesia.
Nessa conferência, Cabral começa
por opor os modos de composição que denomina “inspirado” e “construtivo”, dos
quais derivariam duas famílias de poetas. Para os da família da inspiração, a
poesia seria um achado, algo que acontecia ao poeta; já para os da família da
construção, a poesia seria o resultado de uma busca, de uma elaboração.
O que dinamiza essa oposição, que
em certo sentido retoma a tipologia de Schiller, é o quadro contrastivo que
Cabral traça entre a condição moderna e a “época feliz” dos tempos não
modernos. Naquelas “épocas de equilíbrio”, a espontaneidade é “identificação
com a comunidade”, “o trabalho de arte inclui a inspiração”, as regras da
composição são explícitas e universalmente aceitas, “a exigência da sociedade
em relação aos autores é grande” e, por isso tudo, a comunicação é objetivo
central da prática literária. Na modernidade, em contraposição, as condições
são opostas: o que a define é a perda do leitor (e da crítica, epítome do
leitor) como “contraparte indispensável do escritor”. Sem esse fator de controle, as duas formas de
composição se extremam em oposição radical, gerando famílias poéticas distintas
e distantes, condenadas entretanto a se encontrarem, após o desenvolvimento de
sua inclinação (isto é, depois de os inspirados esgotarem-se no “balbucio”
incapaz de apreender o inefável e depois de arrastados os “construtores” ao
artesanato furioso que conduz ao “suicídio da intimidade absoluta”), no
isolamento solipsista, decorrente da “morte da comunicação”.
No quadro dessa modernidade
descrita quase como beco sem saída, Cabral optava, contra o espontâneo, pelo polo construtivo. E o fazia, a rigor, como confirmação e último desenvolvimento
da condição moderna, pois entendia que o poeta construtivo levava às
derradeiras conseqüências o individualismo, na medida em que afirmava como
referencial último da sua escrita “a consciência das dicções de outros poetas
que ele quer evitar, a consciência aguda do que nele é eco e que é preciso
eliminar a qualquer preço”.
É esse o problema que Cabral retoma na tese
que leu no Congresso de 1954, e na qual aborda especificamente a relação da
poesia com os novos meios de comunicação de massa.
Nesse texto, embora ainda afirme
o caráter multiforme da ‘poesia moderna’, Cabral acredita ser possível achar um
denominador comum às práticas contemporâneas: o “espírito de pesquisa formal”.
Em continuidade ao que apresentara na Biblioteca, dois anos antes, opera com a
oposição entre as “duas famílias de poetas”. Mas já agora o que lhe importa é
que nenhuma das famílias se teria empenhado em promover o “ajustamento do poema
à sua possível função”, disso tendo resultado o caráter intransitivo e inócuo
da poesia contemporânea em relação às necessidades do tempo. A tarefa urgente,
afirma, é buscar para o poema uma função na vida do leitor moderno, seja pela
adaptação aos novos meios de comunicação (o rádio, o cinema e a televisão),
seja pelo retorno a formas que pudessem aumentar a comunicação com o leitor,
como a poesia narrativa, as aucas catalãs (que ele considera as antepassadas
das histórias em quadrinhos), a fábula, a poesia satírica e a letra de canção.
Tendo em vista a urgência da tarefa, o seu texto termina por conclamar os
poetas a combater “o abismo que separa hoje em dia o poeta do seu leitor”, por
meio do abandono dos temas intimistas e individualistas e pela conquista de
formas mais funcionais, que permitam “levar a poesia à porta do homem moderno”.
II. A Poesia Concreta
Quando as atas do Congresso
Internacional foram finamente publicadas, em 1957, as preocupações de Cabral já
tinham encontrado uma resposta programática de grande envergadura e radical
aposta na integração da poesia no quotidiano da vida moderna.
Uma resposta cuja apresentação,
ajuste e transformação constituiriam o centro de energia da poesia brasileira
ao longo dos 50 anos seguintes: a Poesia Concreta.
Para compreender a especificidade do movimento, é preciso
considerar com atenção dois textos que Augusto de Campos
publicou em 1955.[5]
Neles, Augusto afirma a existência de uma linha mestra evolutiva da poesia
moderna à qual responde e se filia a Poesia Concreta:
A verdade é que as
“subdivisões prismáticas da Ideia” de Mallarmé, o método ideogrâmico de Pound,
a simultaneidade joyciana e a mímica verbal de cummings convergem para um novo
conceito de composição – uma ciência de arquétipos e estruturas; para um novo
conceito de forma – uma ORGANOFORMA – onde noções tradicionais como início,
meio, fim, silogismo, tendem a desaparecer diante da ideia poético-gestaltiana,
poético-musical, poético-ideogrâmica de ESTRUTURA.[6]
Nesse primeiro momento do projeto, portanto, a nova poesia
não se apresentava como uma tentativa de superar o abismo entre o autor e o
público. Na verdade, situava-se no pólo oposto, exigindo do leitor um esforço
de obtenção de referências eruditas, de modo a poder aferir a arte de vanguarda
como resultado de “uma ferrenha ânsia de superação culturmorfológica”[7].
Daí que a nova poesia demandasse, do autor tanto como do leitor, trabalho árduo
e aplicação, sendo a ressurgência das formas tradicionais, que caracterizava a Geração de 45, duramente condenada por Haroldo.[8]
O passo seguinte da formulação do
projeto constitui um dos pontos de maior interesse e tensão do programa da
Poesia Concreta, tal como se delineará por ocasião do lançamento nacional do
movimento: fazer coincidir a necessidade da evolução “culturmofológica” com as
necessidades do mundo moderno, marcado pela técnica e dominado pelos meios de
comunicação de massa. Isto é, fazer com que uma poesia elaborada a partir do
pólo maior da negatividade, da recusa do leitor, como a poesia de Mallarmé, e
articulada a partir do exemplo do artesanato joyciano, seja também um caminho
para a positiva integração do poema no mundo industrial. Ou ainda: fazer com
que a poesia que se reclama a origem mais erudita seja simultaneamente a poesia
mais adequada à comunicação imediata com o leitor leigo e despreparado
culturalmente.
Nesse quadro, a crise do verso e
o abismo autor/público se explicam pela inadaptação do verso aos tempos modernos.
À
poesia não parece mais bastar a situação correta e conseqüente, face à evolução
das formas. A evolução das formas deve ser agora valorizada e
entendida em função da apropriação e aproveitamento dos recursos tecnológicos
disponíveis, que são, ao mesmo tempo, o caminho para afirmar a poesia no mundo
dos objetos industriais.[9]
É a retomada da questão enunciada
por João Cabral de Melo Neto, no Congresso de 1954. Em relação às suas
preocupações há aqui, entretanto, diferenças de fundo e de ênfase. A primeira
delas é a recusa do verso – isto é, de todo o arsenal de formas tradicionais –
como estratégia para recuperar a comunicabilidade da poesia nos tempos
modernos. Essa estratégia se resume, agora, à integração da poesia aos meios de
comunicação de massa e aos princípios que os estruturam. A oposição cabralina
entre “expressão” e “construção” se acirra, com a desqualificação do primeiro
pólo e absolutização do segundo como único adequado aos novos tempos. Economia,
objetividade e rapidez são as palavras-chave desse momento da Poesia Concreta
para conseguir a integração da poesia na vida quotidiana, como objeto
industrial de consumo.[10]
Nos anos que se seguem
imediatamente à Exposição Nacional de Arte Concreta, a ênfase no caráter
racional, econômico e integrado do poema tenderá a ser substituída por uma
modalização da forma de entender a poesia nova nos primeiros textos dos integrantes
do grupo Noigandres. Passado o momento inicial, já não se ressaltará a
utilidade, o poema como veículo de propaganda comercial ou objeto decorativo
integrado à moderna arquitetura. Como dizia Haroldo já em maio de 1957, o poema
concreto se vai valer de uma “linguagem afeita a comunicar o mais rápida, clara
e eficazmente o mundo das coisas” para “criar uma forma”, criar “um mundo paralelo
ao mundo das coisas – o poema”[11].
Na mesma linha, Augusto de Campos
escrevia, assinalando uma mudança significativa de perspectiva, quanto à
integração da poesia na vida quotidiana e conquista do público:
Mesmo
quando circunstancialmente divorciada do grande público, como hoje, (e nesse
caso a missão social da poesia estaria limitada a um plano mais alegórico do
que factivo) é de crer-se que a poesia possa intervir, ainda que a
posteriori, à medida que o tempo vá permitindo a absorção das novas formas,
no sentido de pelo menos compensar o atrofiamento da linguagem relegada à
função meramente comunicativa.[12]
A questão da técnica, assim, é de importância central para o
projeto concretista. Bem como a questão da comunicação. O que sofre alteração
drástica, nos primeiros tempos de elaboração do projeto da Poesia Concreta, é a
natureza e o lugar da técnica, por um lado; por outro, aquilo que se comunica
com a técnica.
Nesse segundo momento, o poema concreto, objeto autônomo,
“paralelo ao mundo das coisas” comunicaria imediatamente a sua própria forma
nova. E apenas ela.
A introdução de uma formulação alegórica é o ponto de
virada.
A relação entre a poesia concreta e a tradição e entre a
poesia concreta e o mundo contemporâneo – e essa é a resposta, portanto, à
questão angustiosa de como fazer coincidir a vanguarda erudita com a arte
adequada ao mundo dos mass media – passa a ser uma relação regida por um
“como se”.
O poema concreto é produzido como se fosse um produto industrial; ao mesmo tempo deve ser lido como aquilo que afirma ser: o herdeiro
erudito da principal linha evolutiva da literatura ocidental.
Cabe ao leitor – a um leitor por suposto bem aparelhado
culturalmente – juntar os elementos indicativos dessas vinculações para compor
“a
provável estrutura conteudística relacionada com o conteúdo-estrutura do poema
concreto”.
Assim concebido, o poema concreto é proposto simultaneamente
como a “fisiognomia de nossa época” e como esperança de futuro, na medida em
que, incompreendido pelo grande público, seria comunicativo a posteriori,
quando, absorvido, pudesse ser um antídoto ao atrofiamento da linguagem
meramente comunicativa.
III. A poesia como cena tecnológica e utopia erudita
Mas a base do argumento pela propriedade da linha evolutiva
de que a Poesia Concreta representa o último passo permanece sendo a adequação
ao tempo. Daí que se acentuem as homologias entre a técnica poética (a
espacialização de Mallarmé e Cummings, os caligramas de Símias e Apollinaire, a
palavra-valise de Carroll e Joyce, a paronomásia) e a técnica dos mass media e dos novos recursos
tecnológicos (a visualidade do jornal e do cartaz, as possibilidades
tipográficas da letra set e do
computador, a visualidade da holografia e da tv). [13]
O que vem para primeiro plano,
uma vez que é a “estrutura” o que se comunica, é a técnica. O poema não
comunica algo valendo-se de uma determinada técnica. É a própria técnica – a
técnica literária – o que o poema comunica, traz presente para o leitor.
O que define a técnica como
literária e a opõe à técnica meramente industrial – que, neste segundo momento,
a poesia concreta não mais se propõe a imitar ou incorporar, mas a antecipar –
é a sua inserção num vetor de evolução, construído pelo discurso crítico e
teórico. Um vetor propriamente literário, que corre paralelo ao vetor da
determinação histórica das formas da comunicação industrial.
Por conta dessa necessidade de
distinção, que implica a afirmação do caráter autônomo do desenvolvimento
literário, nos manifestos e nos textos teóricos, a ‘explicação’ concreta do
poema reduz-se à exposição da sua base técnica, à análise do funcionamento
técnico do poema e à definição dessa base e dessa forma específica de
atualização num quadro de evolução dos procedimentos na prática
literária erudita.
Ou seja, na conjugação ou na afirmação da homologia das duas
vertentes técnicas, o que ressalta é a vertente erudita, pois a Poesia Concreta
não só se propõe “poesia” – e não objeto do mundo industrial –, mas ainda reclama
para si o título de única poesia conseqüente na contemporaneidade. Ao mesmo
tempo, essa afirmação de que é única poesia realmente contemporânea do presente
implica afirmar uma equivalência dos vários presentes, ao longo do eixo
temporal: em cada momento, seria possível distinguir qual seria a “poesia
concreta” do seu tempo, isto é, a poesia que, em relação a ele, ocupava o mesmo
lugar que a Poesia Concreta ocupa no presente. A afirmação dessa equivalência
se faz não só pelo discurso teórico que define os “precursores”, mas,
principalmente, por meio da tradução, que faz equivaler os vários momentos do
passado ao presente da poesia concreta.
A polêmica da Poesia Concreta,
assim, é sempre dupla e envolve uma questão de legitimidade ou de direito: a
reivindicação do direito de um objeto que promove a superposição do erudito e
do industrial reivindicar o nome e a tradição da poesia; e também envolve uma questão
de exclusividade: a reivindicação de que só é poesia contemporânea e válida a
que opera essa superposição
Assim, por fazer da
questão técnica o centro real do poema, o elemento que define a sua
contemporaneidade, a tecnologia (e sua incorporação e combinação com o erudito)
passa a ser o espetáculo propriamente moderno do poema concreto.
Daí resultam a proposição e a reivindicação
simultâneas de que: a) a Poesia Concreta é a atualização radical e autoconsciente
de uma experiência antiga: a experiência da invenção poética, ou seja, a
experiência da poesia; e b) a afirmação da radical diferença entre o passado e
o presente, porque a técnica que se dá como espetáculo já não é apenas a
erudita, mas principalmente a tecnologia.
Dessa última proposição deriva a principal
aporia da prática concretista.
Para expor essa aporia, deve-se considerar que a
“técnica tecnológica”, pela sua natureza, muda mais rapidamente que a “técnica
tradicional” da poesia. Ao mesmo tempo, o processo de avanço da técnica é
freado pelo controle da autoria, da qual não abdica o poema concreto.
Ora, a “técnica tecnológica” é avessa ou alheia
à noção de autoria. Por isso mesmo, o valor de espetáculo da “técnica
tecnológica” tende a reduzir-se rapidamente a zero, com o passar do tempo. Da
atualidade mais atual ao museu de velharias é um passo muito rápido no mundo da
cibernética e dos mass media. Na
verdade, esse passo é a mola secreta que movimenta não só a percepção e a
satisfação da modernidade exasperada, mas também a indústria e o comércio dos
aparelhos e dos conteúdos culturais.
Dessa necessidade de autoria, e
da postulação de que pode e deve existir uma coincidência da técnica literária
e da técnica tecnológica – e ainda mais: que a tradição, o repositório da
evolução das formas da literatura ocidental, deva estar presente no momento da
decodificação do poema concreto – resulta o caráter cediço e meramente
histórico de experiências mais radicais, como poemas com hologramas, cartões perfurados
de computador e sons sintetizados, cujo caráter “conservador”, do ponto de
vista técnico, salta aos olhos de qualquer pessoa familiarizada com o mundo da
técnica (e a familiaridade com esse universo propriamente técnico se torna
universal a partir do momento em que se populariza o microcomputador, nos anos
de 1980, e a internet, nos anos 1990).
Resulta ainda outro aspecto
relevante e muito perturbador, que é o fato de que os poemas concretos mais
diretamente vinculados à tecnologia informática guardam hoje interesse apenas
como documentos históricos, pois o seu caráter antigo ou antiquado, do ponto de
vista técnico, torna-os mais interessantes no quadro de um museu da ciência e
da tecnologia, do que numa antologia poética.
Por outro lado, os que não são
lidos apenas ou principalmente como testemunhos de um passado tecnológico morto
são aqueles nos quais a tipografia ou a tipologia vem para primeiro plano (os
da fase ortodoxa, os ideogramas de Décio, os “poemas embalagens” de Augusto), aqueles
nos quais o caráter artesanal (e anti-industrial) é mais sensível (como o Poetamenos; os Poemóbiles; ou a Caixa preta)
e aqueles nos quais a “técnica erudita” sobrepuja a “técnica tecnológica” (como
A máquina do mundo e Crisantempo).
Sendo assim, o ponto de honra do
programa concretista que era a absorção da técnica no quadro de referências da
cultura erudita se revela cada vez mais uma missão impossível, um desafio
perdido.
Daí decorre não só a eleição do lugar
da recusa pelo poeta concreto (toda a obra madura de Augusto de Campos gira
em torno da ideia de resistência, negação, subtração às demandas do presente[14]),
mas ainda um tom algo nostálgico e melancólico que percorre toda a última fase
da poesia concreta.
Nesse sentido, a experiência
decisiva é a contemplação das animações por computador, das versões
informáticas dos poemas concretos. O ritmo lento dá a esses exercícios uma
solenidade estranha, porque jogada a sério, sem nada de jocoso ou de paródico.
Ao lado dos videoclipes de música, por exemplo,
caracterizados pela sua enorme rapidez, e das anônimas animações das páginas da
internet, o poema concreto padece simultaneamente da precariedade dos meios e
recursos técnicos (o que é uma condição fatal, pois, sendo poema, pretende
perdurar na sua forma “artística” de realização) e do deslocamento do sentido
que essa precariedade opera sobre o seu próprio cerne, isto é, o seu caráter de
vanguarda, de objeto situado no futuro, de modo a organizar a percepção do
presente.
Na época da disseminação da visualidade digital, a Poesia
Concreta não consegue reproduzir a aliança entre técnica literária de vanguarda
e técnica tecnológica de ponta. Em algum momento, essa aliança se configurou
como possível. Hoje, ao que tudo indica, já não é. E a própria Poesia Concreta
aparece, cada vez mais, não como a negação do humanismo – tal como ela se via e
como a viam os contemporâneos –, mas justamente, pelo contrário, como um dos
últimos suspiros do humanismo utópico, um momento de esplendor otimista da
modernidade que findava.
Referências bibliográficas:
CAMPOS,
Augusto et allii. Teoria da poesia
concreta. São Paulo: Duas Cidades, 1975.
CAMPOS,
Augusto. Despoesia
(1979-1993). São
Paulo: Perspectiva, 1994.
CAMPOS,
Augusto. Expoemas (198085), serigrafias de Omar Guedes. São
Paulo: Entretempo, 1985.
CAMPOS,
Augusto. Não, com CD-Rom CLIP-POEMAS. São Paulo:
Perspectiva, 2003.
CAMPOS,
Augusto. Poesia da recusa. São Paulo:
Perspectiva, 2006.
CAMPOS,
Augusto. Viva vaia (Poesia 194979). São Paulo:
Duas Cidades, 1979.
CANDIDO,
Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1975, 4.ª ed.
Congresso
Internacional de Escritores e Encontros Intelectuais, São Paulo, Editora
Anhembi Limitada, 1957.
Sítios eletrônicos:
Augusto de Campos –
Site oficial: http://www2.uol.com.br/augustodecampos/
Haroldo de Campos –
Site oficial: http://www2.uol.com.br/haroldodecampos/
Poesia Concreta – http://www.poesiaconcreta.com.br/
Esta é a reprodução
do texto publicado na revista eletrônica Sibila,
em 2009. Foi a primeira publicação em português.
A versão inglesa veio em Portuguese
Studies, Londres, March 22, 2008. Há uma versão on line em inglês em http://www.thefreelibrary.com/Poetry+and+technique:+concrete+poetry+in+Brazil.-a0177830242
. Como o texto não estivesse mais disponível no site da revista, decidi republicá-lo aqui.
Uma palestra sobre o mesmo tema: https://www.youtube.com/watch?v=pHtVgoLuYP8
Uma palestra sobre o mesmo tema: https://www.youtube.com/watch?v=pHtVgoLuYP8
[1] Ver, a respeito, “Olavo Bilac e a unidade do Brasil
republicano”. In Earle, T. F (org.) Actas do V Congresso da Associação
Internacional de Lusitanistas. Oxford-Coimbra: Associação
Internacional de Lusitanistas, 1998, vol. II, p. 697-706.
[2]
Congresso Internacional de Escritores e Encontros Intelectuais, São
Paulo, Editora Anhembi Limitada, 1957, pp. 150-1.
[3]
Reproduzido em Literatura e
sociedade.
[4]
Literatura e sociedade, p. 137.
[5]
Trata-se de “Poesia, estrutura” e “Poema, ideograma”, publicados em 20 e 27 de
março, no jornal Diário de São Paulo. Ambos os textos se encontram
reproduzidos em
Augusto de Campos et alii, Mallarmé.
[6]
“Poema, estrutura”. In Mallarmé, cit., p. 186.
[7]
Haroldo de Campos,
“Poesia e paraíso perdido”, Diário de São Paulo, 5 de junho de 1955;
reproduzido em Augusto
Campos et alii, Teoria da poesia concreta,
pp. 26-30.
[8]
Ibidem, pp. 27-8.
[9] o verso: crise. obriga o leitor de manchetes
(simultaneidade) a uma atitude postiça. não consegue libertar-se dos liames
lógicos da linguagem: ao tentar fazê-lo, discursa adjetivos. não dá mais conta
do espaço como condição de nova realidade rítmica, utilizando-o apenas como
veículo passivo, lombar, e não como elemento relacional de estrutura.
anti-econômico, não se concentra, não se comunica rapidamente. destruiu-se na
dialética da necessidade e uso históricos. [...]
uma arte geral da linguagem. propaganda, imprensa,
rádio, televisão, cinema. uma arte popular.
a importância do olho na comunicação mais rápida:
desde os anúncios luminosos até às histórias em quadrinhos. [...]
contra a
poesia de expressão, subjetiva. por uma poesia de criação, objetiva. concreta,
substantiva
Décio Pignatari, “nova poesia: concreta”. Publicado
na revista ad – arquitetura e decoração (São Paulo, novembro/dezembro de
1956) e republicado, em maio do ano seguinte, no Suplemento Dominical do Jornal
do Brasil, do Rio de Janeiro. Reproduzido em Augusto Campos et
alii, Teoria da Poesia Concreta.
[10] a POESIA CONCRETA é a linguagem adequada à mente
criativa contemporânea
permite a comunicação em seu grau + rápido / prefigura
para o poema uma reintegração na vida quotidiana semelhante à q o BAUHAUS
propiciou às artes visuais: quer como veículo de propaganda comercial (jornais,
cartazes, TV, cinema, etc.), quer como objeto de pura fruição (funcionando na
arquitetura, p. ex.), com campo de possibilidades análogo ao do objeto plástico
/ substitui o mágico, o místico e o “maudit” pelo ÚTIL.
Haroldo
de Campos, “olho por
olho a olho nu”, manifesto publicado conjuntamente com o de Décio Pignatari, há
pouco referido. Encontra-se reproduzido no mesmo volume.
[11]
Haroldo de Campos,
“Poesia concreta – linguagem – comunicação”; reproduzido em Augusto Campos et
alii, Teoria da poesia concreta,
pp. 70-85.
[12]
Augusto de Campos,
“A moeda concreta da fala”, texto publicado em 1/9/1957; reproduzido em Augusto Campos et
alii, Teoria da poesia concreta,
pp. 111-122.
[13]
Um conjunto significativo de poemas de Augusto de Campos,
incluindo não só a reprodução de algumas de suas obras iniciais, mas também um
ótimo exemplário das suas experiências com animação computacional, encontra-se
no site oficial do autor: http://www2.uol.com.br/augustodecampos/
. Há poucos poemas de Haroldo de Campos e
de Décio Pignatari
on line e não é possível reproduzi-los aqui. Recomendo fortemente, por isso,
que o leitor menos familiarizado com a Poesia Concreta brasileira visite o
endereço acima, pois assim não só poderá uma visão de conjunto das várias fases
do movimento, mas ainda adquirir elementos para melhor avaliar a reflexão
apresentada neste artigo.
[14] Basta observar a seqüência dos
títulos dos últimos livros: Viva vaia (1979); Expoemas (1985);
Despoesia (1994); Não (2003);
e a eles juntar o da sua última antologia de traduções: Poesia da recusa (2006).

 TP. Quais são as áreas mais fortes do catálogo da editora? Quais aquelas que gostaria de reforçar?
TP. Quais são as áreas mais fortes do catálogo da editora? Quais aquelas que gostaria de reforçar?