Paulo Franchetti: “A viagem de motocicleta é o que mais se aproxima, para mim, do estado de meditação”
by Editorial Ateliê • • 0 Comments
Aproveitei o resto do último dia para vagar outra vez pelo deserto (A Mão do Deserto)
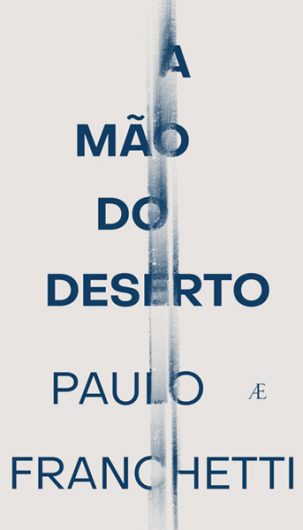
A Ateliê Editorial publica a obra A Mão do Deserto, do escritor e professor Paulo Franchetti. Pode-se dizer que é o livro mais pessoal de Franchetti, de sua vasta trajetória literária. Quem concorda com essa afirmação é o também crítico e professor Alcir Pécora, pois no texto de orelha ele escreveu: “O que gostaria de declarar aqui portanto é que, quando Paulo Franchetti conta as suas aventuras solitárias pelo Atacama adentro, ele está falando de uma coisa muito séria para ele: o cerne de um assunto que ele estudou nos livros e também experimentou no corpo a vida toda”.
De forma literária e num relato preciso desde o planejamento da viagem, passando pelo trajeto de 11 mil quilômetros, até o final da jornada, o autor nos leva junto na garupa em uma narrativa imersiva e emocional, colaborando para um itinerário de espaço e tempo, do humano e da máquina, da imensidão da paisagem da América do Sul, de um estrangeiro em busca de um desafio a duas rodas. “Sempre tive vontade de fazer uma longa viagem solitária de moto. Eu já tinha feito muitas viagens pelo Brasil, tanto sozinho como em companhia. A viagem para o Atacama – que é um desejo de quase todo motociclista – foi um projeto sempre adiado. Ora por compromissos profissionais, ora por motivos familiares. Ora por motivos de saúde”.
Em entrevista para a Ateliê, Paulo Franchetti falou sobre a ideia de elaborar a sua aventura em livro: “Quando decidi escrever, surgiu-me a primeira cena de um modo tão natural quanto inesperado. Em vez de começar a contar a viagem desde o começo, de repente me revi praticamente no meio dela, pouco antes de cruzar os Andes, subindo outra montanha”. Ele também comentou sua relação com a motocicleta, sua companheira de viagem: “Sempre tive paixão por máquinas, engenhos, tecnologias. E por aventuras, talvez por conta das leituras da infância”. Além de confessar a sensação pelo trajeto realizado: “Durante a viagem eu tinha publicado notas objetivas. Dicas para os amigos que no futuro se decidissem a seguir aquele caminho. Mas evitei tentar dar forma escrita às sensações, pensamentos e emoções, porque eu queria a vivência bruta e imediata da beleza e da solidão”.
Confira abaixo a entrevista na íntegra:
Ateliê Editorial: Paulo, antes de tudo, como se originou o desejo de viajar de moto pela América do Sul até o Atacama?
Paulo Franchetti: Sempre tive vontade de fazer uma longa viagem solitária de moto. Eu já tinha feito muitas viagens pelo Brasil, tanto sozinho como em companhia. A viagem para o Atacama – que é um desejo de quase todo motociclista – foi um projeto sempre adiado. Ora por compromissos profissionais, ora por motivos familiares. Ora por motivos de saúde.
Um dia, ao sair de uma consulta médica, soube que teria de tomar um remédio anticoagulante pelo resto da vida. Isso porque, para evitar o mesmo destino de minha mãe, já que tínhamos o mesmo problema cardíaco, tinha me submetido a uma cirurgia dois anos antes. Julgava-me recuperado. E estava. Porém não fui dispensado do remédio e, com ele, da recomendação de evitar qualquer situação de risco que pudesse gerar sangramento. Enquanto caminhava de volta para casa, pensei que eu já tinha adiado muito, que o tempo tinha passado muito rápido e que ou era naquele momento ou não seria nunca mais. Lembro-me perfeitamente do momento em que tomei a decisão. Era uma manhã fria, de céu muito azul. Eu subia a pé a rua na direção de casa, trazendo, num envelope, mais um eletrocardiograma, que atestava a condição normal e controlada. Tinha já feito tantos… Naquele dia não o levei comigo: depositei-o na primeira lixeira que encontrei na rua. Quando entrei em casa, fui direto ao computador e tracei a primeira rota, automática, que depois seria totalmente refeita, com base no que fui ouvindo, lendo e me aconselhando com pessoas. Estava decidida a viagem. Ou, melhor dizendo, ela já tinha começado.
P: Complementando a primeira pergunta, como, também, originou a escrita de um livro sobre essa experiência?
R: Durante a viagem eu tinha publicado notas objetivas. Dicas para os amigos que no futuro se decidissem a seguir aquele caminho. Mas evitei tentar dar forma escrita às sensações, pensamentos e emoções, porque eu queria a vivência bruta e imediata da beleza e da solidão. Não queria filtros, mediações. Quando voltei, reatando a conversa com um amigo, perguntou-me ele o que eu tinha feito nos últimos tempos. Disse-lhe que, entre outras coisas e viagens e trabalhos, tinha ido sozinho ao Atacama, de moto. Ele me pediu que lhe contasse algo e eu redigi um breve relato, de imediato, conforme me foram ocorrendo as lembranças principais. Esse amigo, Alcir Pécora – meu parceiro de trabalho de tantos anos -, gostou da narrativa e me animou a prosseguir: a refazer a viagem em palavras. Estávamos em plena fase aguda da pandemia. Minha próxima viagem, até o Peru, tinha sido cancelada. Aceitei a sugestão e durante uns meses me dediquei a rememorar a viagem. Eu tinha as anotações objetivas: lugares, datas, nomes, eventos. E tinha fotografias. Foram bons apoios, mas desnecessários em certo sentido, porque a viagem estava ainda viva e pulsante na minha lembrança.
Curiosamente, quando terminei de escrever a primeira versão, não a enviei ao Alcir. Achei que antes de apresentá-la a ele queria ouvir a opinião do Plínio Martins Filho. Creio que eu queria testar a força do relato com alguém cujo gosto e capacidade de leitura eu admirava, mas para quem eu não tivesse ainda dito nada sobre a viagem, nem mandado fotos ou relatos.
A resposta do Plínio foi animadora: disse logo que queria publicar aquilo. Mas havia algo que ele queria que eu tivesse escrito, algo que faltava e ele não sabia bem o que era.
Na sequência, enviei ao Alcir.
Alcir comparecia na história, porque o livro não trata só da viagem exterior, isto é, do trajeto até o Atacama. Trata também de tudo o que foi aflorando durante aqueles 25 dias: lembranças, emoções, pensamentos fugidios, sensações, alucinações. Num dos capítulos, eu narro um evento motociclístico de que ele fez parte. Mas minha grande expectativa quanto à sua leitura não era saber se ele se sentiria divertido e bem representado no episódio. Além do que sempre tivemos ao escrever juntos ou ler textos um do outro, isto é, crítica rigorosa e construtiva, eu confiava que ele poderia me dizer o que faltava ali, o que era a lacuna que o Plínio percebeu sem identificar claramente.
Alcir leu e logo deu pelo que seria: o que logo explicitei, inserindo o segundo capítulo e estava apenas indicado ou subentendido ao longo da narrativa.
Na sequência, sobre o livro já pronto em primeira versão, tivemos muitas conversas e fico sempre feliz de registrar que, sem elas, o livro provavelmente seria um pouco diferente do que é. O melhor, quanto a mim, foi o fato de apostar, desde o momento da escrita solitária, no diálogo com um leitor assim exigente. Porque eu acho que a gente sempre tem uma imagem de leitor ideal, quando escreve. E embora eu não lhe tivesse mostrado o livro em primeiro lugar, a verdade é que o escrevi tendo também em mente a sua leitura e feedback.
P: Na leitura da obra, somos impactados com a precisão de sua escrita em nos deixar imersos na narrativa e trajeto, como se estivéssemos viajando contigo na garupa, como foi o trabalho e o processo de escrita do livro?
R: Eu não sei bem o que dizer. Quando decidi escrever, surgiu-me a primeira cena de um modo tão natural quanto inesperado. Em vez de começar a contar a viagem desde o começo, de repente me revi praticamente no meio dela, pouco antes de cruzar os Andes, subindo outra montanha. Não sei bem por que comecei por ali, nem mesmo como fui organizando a narrativa e a costura entre o passado e o presente. Eu gostaria de dizer que foi um processo muito consciente, que houve tal planejamento que a metade do livro coincide com um marco importante da viagem. Mas não é verdade. Eu tinha uma trilha para seguir, que eram as anotações tópicas: datas e lugares, basicamente. À medida que ia escrevendo, fui revivendo intensamente os passos e os eventos, e eles se foram encadeando, em lógica própria, com reminiscências ocorridas durante a viagem e lembranças outras que foram surgindo durante a escrita.
P: Há muitas descobertas íntimas que você compartilha com o leitor. O que mudou para o Paulo após essa viagem? E o que podemos extrair da leitura dessa reflexão?
R: Sinto que alguma coisa mudou, mas numa região interna a que não tenho muito acesso. Dizendo assim pode parecer estranho, mas o efeito da solidão e a vivência da vulnerabilidade e do desamparo deixaram marcas benéficas, que só consigo definir mais ou menos com a palavra pacificação. Foi, de alguma forma, uma viagem de reconciliação, de reencontro e de perdão. A viagem de motocicleta é o que mais se aproxima, para mim, do estado de meditação. Uma viagem de 25 dias, com pouco contato com pessoas e muitas horas preenchidas apenas com a contemplação da natureza agreste e com o esforço de apenas estar presente no presente, é como uma meditação estendida. Um estado que é difícil definir, mas fácil de sentir enquanto está durando. Sinto que voltei diferente, mas não posso dizer em quê, nem por quê.
P: Percebemos uma relação entre você e a motocicleta, há muito detalhes na obra de como você a comprou e a reformou para a aventura, conte-nos como começou essa paixão?
R: Sempre tive paixão por máquinas, engenhos, tecnologias. E por aventuras, talvez por conta das leituras da infância. Quando tinha uns 12 anos, um de meus tios apareceu com uma velha motocicleta, que pegara como pagamento de um negócio. Eu adorava aventurar-me em correrias sobre um velho pangaré, mas a máquina logo me seduziu e, enquanto ela esteve disponível, não voltei ao lombo do animal. Essa primeira experiência, interrompida por muitos anos, até eu poder comprar a minha primeira motocicleta, foi a origem de uma paixão pelas duas rodas que nunca arrefeceu e provavelmente nunca vai arrefecer. Além de pilotar, fascinou-me a motocicleta enquanto engenho. Fiz estágio em oficina, comprei livros, ferramentas e aprendi o que me foi possível na arte da mecânica. Compreender o funcionamento, testar vários modelos, compará-los, verificar o melhor de cada um passou a ser também um objetivo e cheguei mesmo a escrever avaliações de motocicletas recém-lançadas que foram publicadas no Facebook e num blog de uma revista especializada.
Houve depois outra fase breve. Tendo feito alguns passeios com o H.O.G. (Grupo de Proprietários de Harley), acabei comprando motocicletas dessa marca e me envolvendo com o grupo. Durante algum tempo, participei inclusive da diretoria do H.O.G. da Tennessee de Campinas. De modo que por algum tempo, além dos passeios solitários, envolvi-me com a vida gregária. Hoje já não vivo no universo Harley-Davidson, mas alguns dos melhores amigos com quem convivo foram o ganho suplementar daqueles bons tempos.
*******
O AUTOR
Paulo Franchetti foi professor titular no Departamento de Teoria Literária da Unicamp e presidente da editora da mesma universidade por muitos anos. Publicou pela Ateliê Editorial os livros de estudos literários: Estudos de Literatura Brasileira e Portuguesa e Crise em Crise – Notas sobre Poesia e Crítica no Brasil Contemporâneo. Publicou também o livro de ficção O Sangue dos Dias Transparentes e A Mão do Deserto (memória de viagem), além dos livros de poesia: Deste Lugar, Memória Futura, ente outros. Seu livro de haicais, Oeste, representa uma das mais admiráveis experiências na recente poesia brasileira. Para a coleção Clássicos Ateliê organizou também O Primo Basílio, Dom Casmurro, Iracema, O Cortiço, A Cidade e as Serras, Clepsidra e Esaú e Jacó.