terça-feira, 19 de outubro de 2021
Um livro involuntário - #1
sábado, 25 de setembro de 2021
Motociclismo: uma entrevista
Paulo Franchetti: “A viagem de motocicleta é o que mais se aproxima, para mim, do estado de meditação”
by Editorial Ateliê • • 0 Comments
Aproveitei o resto do último dia para vagar outra vez pelo deserto (A Mão do Deserto)
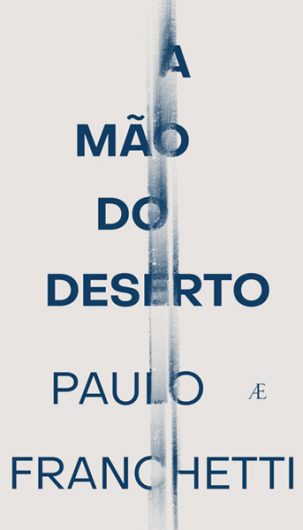
A Ateliê Editorial publica a obra A Mão do Deserto, do escritor e professor Paulo Franchetti. Pode-se dizer que é o livro mais pessoal de Franchetti, de sua vasta trajetória literária. Quem concorda com essa afirmação é o também crítico e professor Alcir Pécora, pois no texto de orelha ele escreveu: “O que gostaria de declarar aqui portanto é que, quando Paulo Franchetti conta as suas aventuras solitárias pelo Atacama adentro, ele está falando de uma coisa muito séria para ele: o cerne de um assunto que ele estudou nos livros e também experimentou no corpo a vida toda”.
De forma literária e num relato preciso desde o planejamento da viagem, passando pelo trajeto de 11 mil quilômetros, até o final da jornada, o autor nos leva junto na garupa em uma narrativa imersiva e emocional, colaborando para um itinerário de espaço e tempo, do humano e da máquina, da imensidão da paisagem da América do Sul, de um estrangeiro em busca de um desafio a duas rodas. “Sempre tive vontade de fazer uma longa viagem solitária de moto. Eu já tinha feito muitas viagens pelo Brasil, tanto sozinho como em companhia. A viagem para o Atacama – que é um desejo de quase todo motociclista – foi um projeto sempre adiado. Ora por compromissos profissionais, ora por motivos familiares. Ora por motivos de saúde”.
Em entrevista para a Ateliê, Paulo Franchetti falou sobre a ideia de elaborar a sua aventura em livro: “Quando decidi escrever, surgiu-me a primeira cena de um modo tão natural quanto inesperado. Em vez de começar a contar a viagem desde o começo, de repente me revi praticamente no meio dela, pouco antes de cruzar os Andes, subindo outra montanha”. Ele também comentou sua relação com a motocicleta, sua companheira de viagem: “Sempre tive paixão por máquinas, engenhos, tecnologias. E por aventuras, talvez por conta das leituras da infância”. Além de confessar a sensação pelo trajeto realizado: “Durante a viagem eu tinha publicado notas objetivas. Dicas para os amigos que no futuro se decidissem a seguir aquele caminho. Mas evitei tentar dar forma escrita às sensações, pensamentos e emoções, porque eu queria a vivência bruta e imediata da beleza e da solidão”.
Confira abaixo a entrevista na íntegra:
Ateliê Editorial: Paulo, antes de tudo, como se originou o desejo de viajar de moto pela América do Sul até o Atacama?
Paulo Franchetti: Sempre tive vontade de fazer uma longa viagem solitária de moto. Eu já tinha feito muitas viagens pelo Brasil, tanto sozinho como em companhia. A viagem para o Atacama – que é um desejo de quase todo motociclista – foi um projeto sempre adiado. Ora por compromissos profissionais, ora por motivos familiares. Ora por motivos de saúde.
Um dia, ao sair de uma consulta médica, soube que teria de tomar um remédio anticoagulante pelo resto da vida. Isso porque, para evitar o mesmo destino de minha mãe, já que tínhamos o mesmo problema cardíaco, tinha me submetido a uma cirurgia dois anos antes. Julgava-me recuperado. E estava. Porém não fui dispensado do remédio e, com ele, da recomendação de evitar qualquer situação de risco que pudesse gerar sangramento. Enquanto caminhava de volta para casa, pensei que eu já tinha adiado muito, que o tempo tinha passado muito rápido e que ou era naquele momento ou não seria nunca mais. Lembro-me perfeitamente do momento em que tomei a decisão. Era uma manhã fria, de céu muito azul. Eu subia a pé a rua na direção de casa, trazendo, num envelope, mais um eletrocardiograma, que atestava a condição normal e controlada. Tinha já feito tantos… Naquele dia não o levei comigo: depositei-o na primeira lixeira que encontrei na rua. Quando entrei em casa, fui direto ao computador e tracei a primeira rota, automática, que depois seria totalmente refeita, com base no que fui ouvindo, lendo e me aconselhando com pessoas. Estava decidida a viagem. Ou, melhor dizendo, ela já tinha começado.
P: Complementando a primeira pergunta, como, também, originou a escrita de um livro sobre essa experiência?
R: Durante a viagem eu tinha publicado notas objetivas. Dicas para os amigos que no futuro se decidissem a seguir aquele caminho. Mas evitei tentar dar forma escrita às sensações, pensamentos e emoções, porque eu queria a vivência bruta e imediata da beleza e da solidão. Não queria filtros, mediações. Quando voltei, reatando a conversa com um amigo, perguntou-me ele o que eu tinha feito nos últimos tempos. Disse-lhe que, entre outras coisas e viagens e trabalhos, tinha ido sozinho ao Atacama, de moto. Ele me pediu que lhe contasse algo e eu redigi um breve relato, de imediato, conforme me foram ocorrendo as lembranças principais. Esse amigo, Alcir Pécora – meu parceiro de trabalho de tantos anos -, gostou da narrativa e me animou a prosseguir: a refazer a viagem em palavras. Estávamos em plena fase aguda da pandemia. Minha próxima viagem, até o Peru, tinha sido cancelada. Aceitei a sugestão e durante uns meses me dediquei a rememorar a viagem. Eu tinha as anotações objetivas: lugares, datas, nomes, eventos. E tinha fotografias. Foram bons apoios, mas desnecessários em certo sentido, porque a viagem estava ainda viva e pulsante na minha lembrança.
Curiosamente, quando terminei de escrever a primeira versão, não a enviei ao Alcir. Achei que antes de apresentá-la a ele queria ouvir a opinião do Plínio Martins Filho. Creio que eu queria testar a força do relato com alguém cujo gosto e capacidade de leitura eu admirava, mas para quem eu não tivesse ainda dito nada sobre a viagem, nem mandado fotos ou relatos.
A resposta do Plínio foi animadora: disse logo que queria publicar aquilo. Mas havia algo que ele queria que eu tivesse escrito, algo que faltava e ele não sabia bem o que era.
Na sequência, enviei ao Alcir.
Alcir comparecia na história, porque o livro não trata só da viagem exterior, isto é, do trajeto até o Atacama. Trata também de tudo o que foi aflorando durante aqueles 25 dias: lembranças, emoções, pensamentos fugidios, sensações, alucinações. Num dos capítulos, eu narro um evento motociclístico de que ele fez parte. Mas minha grande expectativa quanto à sua leitura não era saber se ele se sentiria divertido e bem representado no episódio. Além do que sempre tivemos ao escrever juntos ou ler textos um do outro, isto é, crítica rigorosa e construtiva, eu confiava que ele poderia me dizer o que faltava ali, o que era a lacuna que o Plínio percebeu sem identificar claramente.
Alcir leu e logo deu pelo que seria: o que logo explicitei, inserindo o segundo capítulo e estava apenas indicado ou subentendido ao longo da narrativa.
Na sequência, sobre o livro já pronto em primeira versão, tivemos muitas conversas e fico sempre feliz de registrar que, sem elas, o livro provavelmente seria um pouco diferente do que é. O melhor, quanto a mim, foi o fato de apostar, desde o momento da escrita solitária, no diálogo com um leitor assim exigente. Porque eu acho que a gente sempre tem uma imagem de leitor ideal, quando escreve. E embora eu não lhe tivesse mostrado o livro em primeiro lugar, a verdade é que o escrevi tendo também em mente a sua leitura e feedback.
P: Na leitura da obra, somos impactados com a precisão de sua escrita em nos deixar imersos na narrativa e trajeto, como se estivéssemos viajando contigo na garupa, como foi o trabalho e o processo de escrita do livro?
R: Eu não sei bem o que dizer. Quando decidi escrever, surgiu-me a primeira cena de um modo tão natural quanto inesperado. Em vez de começar a contar a viagem desde o começo, de repente me revi praticamente no meio dela, pouco antes de cruzar os Andes, subindo outra montanha. Não sei bem por que comecei por ali, nem mesmo como fui organizando a narrativa e a costura entre o passado e o presente. Eu gostaria de dizer que foi um processo muito consciente, que houve tal planejamento que a metade do livro coincide com um marco importante da viagem. Mas não é verdade. Eu tinha uma trilha para seguir, que eram as anotações tópicas: datas e lugares, basicamente. À medida que ia escrevendo, fui revivendo intensamente os passos e os eventos, e eles se foram encadeando, em lógica própria, com reminiscências ocorridas durante a viagem e lembranças outras que foram surgindo durante a escrita.
P: Há muitas descobertas íntimas que você compartilha com o leitor. O que mudou para o Paulo após essa viagem? E o que podemos extrair da leitura dessa reflexão?
R: Sinto que alguma coisa mudou, mas numa região interna a que não tenho muito acesso. Dizendo assim pode parecer estranho, mas o efeito da solidão e a vivência da vulnerabilidade e do desamparo deixaram marcas benéficas, que só consigo definir mais ou menos com a palavra pacificação. Foi, de alguma forma, uma viagem de reconciliação, de reencontro e de perdão. A viagem de motocicleta é o que mais se aproxima, para mim, do estado de meditação. Uma viagem de 25 dias, com pouco contato com pessoas e muitas horas preenchidas apenas com a contemplação da natureza agreste e com o esforço de apenas estar presente no presente, é como uma meditação estendida. Um estado que é difícil definir, mas fácil de sentir enquanto está durando. Sinto que voltei diferente, mas não posso dizer em quê, nem por quê.
P: Percebemos uma relação entre você e a motocicleta, há muito detalhes na obra de como você a comprou e a reformou para a aventura, conte-nos como começou essa paixão?
R: Sempre tive paixão por máquinas, engenhos, tecnologias. E por aventuras, talvez por conta das leituras da infância. Quando tinha uns 12 anos, um de meus tios apareceu com uma velha motocicleta, que pegara como pagamento de um negócio. Eu adorava aventurar-me em correrias sobre um velho pangaré, mas a máquina logo me seduziu e, enquanto ela esteve disponível, não voltei ao lombo do animal. Essa primeira experiência, interrompida por muitos anos, até eu poder comprar a minha primeira motocicleta, foi a origem de uma paixão pelas duas rodas que nunca arrefeceu e provavelmente nunca vai arrefecer. Além de pilotar, fascinou-me a motocicleta enquanto engenho. Fiz estágio em oficina, comprei livros, ferramentas e aprendi o que me foi possível na arte da mecânica. Compreender o funcionamento, testar vários modelos, compará-los, verificar o melhor de cada um passou a ser também um objetivo e cheguei mesmo a escrever avaliações de motocicletas recém-lançadas que foram publicadas no Facebook e num blog de uma revista especializada.
Houve depois outra fase breve. Tendo feito alguns passeios com o H.O.G. (Grupo de Proprietários de Harley), acabei comprando motocicletas dessa marca e me envolvendo com o grupo. Durante algum tempo, participei inclusive da diretoria do H.O.G. da Tennessee de Campinas. De modo que por algum tempo, além dos passeios solitários, envolvi-me com a vida gregária. Hoje já não vivo no universo Harley-Davidson, mas alguns dos melhores amigos com quem convivo foram o ganho suplementar daqueles bons tempos.
*******
O AUTOR
Paulo Franchetti foi professor titular no Departamento de Teoria Literária da Unicamp e presidente da editora da mesma universidade por muitos anos. Publicou pela Ateliê Editorial os livros de estudos literários: Estudos de Literatura Brasileira e Portuguesa e Crise em Crise – Notas sobre Poesia e Crítica no Brasil Contemporâneo. Publicou também o livro de ficção O Sangue dos Dias Transparentes e A Mão do Deserto (memória de viagem), além dos livros de poesia: Deste Lugar, Memória Futura, ente outros. Seu livro de haicais, Oeste, representa uma das mais admiráveis experiências na recente poesia brasileira. Para a coleção Clássicos Ateliê organizou também O Primo Basílio, Dom Casmurro, Iracema, O Cortiço, A Cidade e as Serras, Clepsidra e Esaú e Jacó.
Um caminho de haicai
Faz tempo que não me dedico ao haicai. Mas acompanho de modo pouco sistemático o que se produz sob essa designação.
Um dia desses, ocorreu-me a ideia de que talvez valesse a pena criar um grupo para aqueles que estão dispostos a percorrer um específico caminho de haicai. Um caminho entre outros, sem pretensão de ser o melhor, nem temor de ser o pior.
Mas por que isso valeria a pena? Que tipo de prática seria essa e qual a sua necessidade ou função nos dias de hoje?
Bom, eu pensei numa atividade que se diferenciasse, por um lado, do haicai tradicional, tal como praticado no Brasil e em boa parte do mundo; e, por outro, também daquilo que se poderia chamar de haicai sem lei nem caminho, no sentido de uma prática indiscriminada, na qual cada um faz o que quer, usando a palavra haicai para designar qualquer arranjo de palavras que o seu autor ache ou queira que achem que é haicai.
Enquanto tentava esclarecer para mim mesmo essa proposta, comecei a pensar nas diferenças entre ela e o que se reconhece como haicai tradicional no Brasil, uma vez que não reconheço nenhuma relevância no outro tipo, isto é, no tipo de haicai banalizado como terceto espirituoso ou sentimental.
De imediato, creio que haveria duas diferenças principais entre o haicai que me interessa e o tradicional. Uma que diz respeito à forma do verso, outra que diz respeito a um elemento do seu “conteúdo”.
1. Quanto à forma
Por mera convenção, considera-se no Brasil que o haicai exige a métrica 5-7-5 sílabas, contadas à maneira moderna.
Talvez nem todos saibam que até 1851 a contagem das sílabas do verso português era como a do verso espanhol e do verso italiano.
Um verso como “uma rã mergulha” era denominado hexassílabo, porque se contavam todas as sílabas do verso. Como aliás é até hoje em espanhol. A partir de certo momento, por conta do Tratado, de Antonio Feliciano de Castilho, a maneira nova de contar os versos, mais próxima da francesa, torna-se dominante entre nós: contam-se as sílabas só até a última tônica.
Ora, em japonês, se não estou em erro, nem sequer se pode falar em sílabas para definir o verso. O que se conta são os tempos (moras). Assim, uma sílaba simples seguida de nasalização vale dois tempos: por exemplo, a palavra “livro”, que se diz “hon”, vale por duas moras em japonês. E a palavra Bashô, como tem a última sílaba longa, vale por 3 tempos e não dois como quando a utilizamos em português.
Então, do meu ponto de vista, não faz sentido o preciosismo de querer fazer haicai em versos contados à maneira moderna em português. Eles têm quase sempre uma sílaba a mais por linha, em relação a um haicai japonês, pois só podemos falar em esquema 5-7-5 se ignoramos as átonas após as tônicas. E a estrofe, dentro da nossa tradição, não parece sustentar-se (por isso mesmo Guilherme de Almeida tratou de lhe dar mais consistência, por meio da inclusão do esquema de rimas).
Então, pergunto, qual o sentido de nos esforçarmos para manter uma métrica que nada tem a ver com o original que nos inspira? Uma métrica que, na nossa própria tradição, não nos diz nada, pois sequer construímos uma estrofe regular?
Há outras coisas muito mais importantes no trabalho de aclimatação do haicai do que esse preciosismo algo desfocado.
Portanto: o número de 17 sílabas me parece apenas um parâmetro, uma baliza, jamais um ideal ou uma obrigação.
Já a estrutura, em si mesma, creio que deva ser a do haicai tradicional, porque é da justaposição que resulta o efeito particular desse tipo de arte da palavra.
Assim, compostos em 3 versos, estes são os parâmetros que vale apena observar: o verso intermediário mais longo e ligado sintaticamente a um dos versos externos menores, para permitir o balanço característico da forma, e – claro – a justaposição.
2. O “conteúdo”
Aqui quero falar do “kigo”, a palavra de estação. No Japão, país de clima temperado e pequena extensão longitudinal, as estações são bem definidas. O haicai é, pela origem, como todos sabem, o terceto que traz uma indicação sobre a estação em que foi composto. Essa indicação, por força da tradição, se cristalizou em palavras e expressões convencionais. Neblina implica primavera, frio indica inverno, lua sem qualificação é kigo de outono, e muitas atividades humanas típicas de determinada estação indicam o momento do ano em que ocorrem.
O “kigo” é, assim, uma forma muito econômica e eficaz de despertar associações com um determinado momento e com a disposição de espírito que a ela se liga de alguma forma. É como um acorde, que define um tom e um clima, e abre um leque de possibilidades de harmonização.
No Brasil, país de enorme extensão em longitude e latitude, há poucos kigos unânimes. A maior parte deles associados ao calendário profano ou religioso (Carnaval, Natal, Dia de Finados, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Trabalho...) ou à sazonalidade das frutas regionais.
Não creio, por isso, que faça sentido nos apegarmos aos kigos e compormos os haicais a partir deles. Podemos, claro, criar com o tempo um repertório de kigos, mas não de modo abstrato. Não como ponto de partida para a composição do haicai.
Com isso quero dizer que temos de nos centrar numa experiência, numa sensação ou num estado de ânimo originado de uma percepção objetiva (de preferência sensória). Com o tempo, pela repetição da associação da experiência sensória com uma época do ano ou uma disposição do espírito, poderemos ter algo parecido com o kigo, no sentido japonês. Nem isso, porém, deve ser o objetivo principal da prática, do meu ponto de vista.
Parece-me, em suma, um engano compor o haicai a partir do kigo tradicional. Isto é, o haicaísta sair em busca do haicai que caiba no kigo. É ruim para a prática, para a aprendizagem e para a fruição, isto é, para a descoberta que o leitor faz do que vem naqueles poucos versos.
O contrário é mais produtivo: compor o haicai por impulso, a partir de uma sensação ou percepção. E depois ver se o que disparou o haicai encontrou uma palavra própria ou não. E não se apegar ao haicai assim produzido, pois ele é um registro, uma consequência e não um objetivo. Como experiência e exercício espiritual, apegar-se a ele, querer produzir um haicai brilhante ou então tentar salvar a todo custo um haicai mal formulado, isto é, tentar construir com palavras o que a intuição não cristalizou de imediato, é perder o caminho no momento mesmo em que se tenta trilhá-lo.
Portanto, resumindo: o mais importante para o tipo de haicai que julgo interessante é ele se apresentar como registro objetivo de uma sensação. É em volta dessa sensação ou percepção objetiva que se deve articular o haicai, é para isso que deve apontar, independente de qualquer outra ressonância que ele tenha.
Sem sensação, sem haicai: eis o lema que acho mais profícuo. Haicai só feito de palavras e de abstrações não me parece digno de respeito (para parafrasear as palavras do mestre). O haicai que acho valer a pena é aquele centrado na verdade e na percepção objetiva.
Haveria muito a dizer ainda. Sobre a forma, sobre as tentações que lançam sombra no caminho. E também valeria a pena repisar um ponto: um tal haicai não deve pretender ser “literatura”, produto, mas vivência, prática, aprendizado, atitude. Um jeito de estar no mundo e na linguagem. A “visão própria”, a vaidade, o desejo de compor algo bonito ou brilhante, o desejo de explicar, de compor adivinhas e outras coisas fáceis, como jogos de linguagem, são os perigos e os entraves da prática. Mas isso seria discutido com vagar, na prática de cada dia, se eu fosse levar adiante este projeto.
terça-feira, 14 de setembro de 2021
Nos Andes, de motocicleta
Na cordilheira (um relato)
.
Texto publicado na revista Conhece-te, edição de setembro, como apresentação do livro "A mão do deserto" (Ateliê Editorial, 2021).
.
Na primavera de 2019, resolvi fazer uma viagem de moto. Uma viagem solitária. Há quatro anos tinha perdido minha mãe. Ela sofria de fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca que pode induzir a formação de coágulos. E teve um AVC. Faleceu depois de dois anos acamada, sem falar, sem poder se mexer. Eu sofria do mesmo mal. Dois anos após a sua morte, resolvi submeter-me a uma cirurgia para que se cauterizasse uma parte do meu coração e ele voltasse ao ritmo desejado. Mas a cura não foi completa: suprimiram o gatilho, mas a bala continuou na agulha e o cão continuou armado. De modo que o médico me receitou um normalizador do ritmo e um anticoagulante, que deveria proteger-me dos coágulos. Dois anos depois da cirurgia, os exames mostraram que eu estava estável, mas condenado a tomar os medicamentos para sempre.
Na primeira consulta após a cirurgia, com o uso de anticoagulantes, a motocicleta era algo proibido. Assim como qualquer esporte ou atividade que pudesse causar acidentes e sangramento. Mas desde os doze anos, a motocicleta foi parte da minha vida, e abdicar dela seria abdicar de algo que era mais do que um prazer, era uma elemento de identidade. Então não parei.
Quando, finalmente, soube que tomaria o remédio para o resto da vida, resolvi fazer a viagem da minha vida. Uma viagem sem companhia, durante a qual, compensando os riscos, eu poderia dialogar comigo e com os meus mortos, bem como com os vivos com os quais deixei de conversar ao longo dos anos, por um motivo ou por outro, ou sem nenhum motivo.
A viagem começou pela Argentina, na fronteira de Foz do Iguaçu. Prosseguiu primeiro para Oeste, na direção de Posadas e Corrientes e por fim Termas de Rio Hondo. Ali sofreu uma inflexão para norte, na direção de Salta e depois Humahuaca. Em seguida, de novo para o oeste, andei pelas Salinas Grandes, um deserto de sal, cujas placas grossas sustentam carros sobre um mar de água transparente, e então cruzei os Andes.
Pilotando a 4850 metros acima do nível do mar, entre vulcões gelados, segui para San Pedro de Atacama, que divisei ao longe, entre um vasto círculo de picos cobertos de neve, ao lado de grandes salares, no altiplano que se conhece como Puna.
Desde San Pedro, rodei em várias direções pelo deserto, com rumo ou sem rumo, ora buscando o silêncio interior, concentrado na respiração e no ruído do motor, ora dialogando com os rostos que pareciam brotar das dunas, entre a rara vegetação, sob o sol quente ou sob a luz fria da lua brilhante. A todos prestei as homenagens, a todos perdoei do que nem sabia que precisava perdoar, e a todos também pedi, sem buscar a clareza dos motivos, perdão.
As viagens solitárias têm esse poder de conhecimento sem revelação: da mesma forma que a paisagem é desconhecida, o sentido das coisas não precisa se transformar em dado explícito para impor a sua força de sentido obscuro e de emoção incontida.
Da minha cabana de adobe, no meio do deserto, segui depois para a costa do Pacífico. Passei pela Mano del Desierto, aquele monumento estranho: uma mão humana semienterrada, ou sendo erguida desde o fundo, à margem de uma rodovia, entre colinas.
E na sequência da viagem, percorri a dura costa do Chile, com a sua miséria e riqueza mineral, até Santiago, de onde cruzei novamente os Andes, em direção à adorável Mendoza. Dali para Córdoba e a seguir de volta ao Brasil.
Foram onze mil quilômetros e 25 dias de quase solidão. Digo quase, porque o viajante solitário está aberto às experiências da estrada. Não está se movendo numa pequena bolha de relações de familiaridade. Nem mesmo se pode isolar e proteger no invólucro seguro da sua própria língua.
Quando voltei, um amigo com o qual tinha perdido o contato há anos quis saber da viagem. E lhe mandei o seguinte relato breve, do qual excluo a parte que repete o que contei acima:
“Houve momentos em que a sensação era de total solidão e vulnerabilidade, como quando cruzei uma parte da Argentina chamada El Chaco. Ali, o que há são retas infinitas, desabitadas. Grandes caminhões cruzam por nós com uma velocidade espantosa e o ar que deslocam é como uma pancada no peito. Na época em que passei por lá, chovia. E fazia frio. Normalmente é quente demais. Mas chovia.
Ao longo da estrada havia animais. Carneiros, burricos, porcos. Em manadas ordeiras, pastando nas margens. E passavam os caminhões em carreira e eu mesmo a 180 km/h, só diminuindo ao avistar um grupo mais próximo da pista. O principal problema eram os pássaros. Centenas deles ficavam na pista, em intervalos curtos, comendo as sementes que o vento trazia. Eu ia buzinando e encolhido atrás do para-brisa, para me proteger. E mesmo assim, com todo o barulho, atropelava sempre vários, que iam caindo pelas beiradas da moto. Um deslocou a lanterna, outro bateu no meu capacete. Mesmo assim, por buzinar, matei poucos. Um amigo que passou por lá depois, embora eu tivesse dito que precisava buzinar muito, matou duas dúzias, alguns dos quais ficaram grudados, esmagados contra os ferros da moto.
Depois, em certa parte, não havia nada, exceto imensos ninhos abandonados nas árvores altas, numa paisagem de fim de mundo. Uma linha de postes de energia no horizonte era o único testemunho humano, além da estrada. Retas que se perdiam, burricos bravos e ovelhas cobertas de lã, porcos pastando em grupo.
Quando parava a moto, o silêncio era atordoante. Principalmente porque parava o vento. Deixava a moto e caminhava até uma distância da qual a pudesse ver contra aquela paisagem rústica.
Antes de partir comprei um aparelho rastreador. Ele tem um botão para pedir ajuda e outro para pedir resgate. Não depende de celular, porque nesses lugares não há sinal. É tudo por satélite. Em caso de pane da moto, pressionando um botão para pedir ajuda, uma mensagem em SMS vai para um número pré-configurado, com um texto pré-definido e a localização no mapa. Em caso de real perigo de vida, um botão denominado SOS envia um pedido para a central nos EUA, com a localização. Nesse caso, o compromisso da empresa é providenciar um resgate o mais rápido possível, pelo meio disponível: helicóptero, caminhonete, lombo de burro. E conheço casos, ocorridos nessa mesma região, de gente que se acidentou, quebrou perna e braço e foi resgatada na montanha, quando estava a ponto de morrer de hipotermia.
Quando descia nesses lugares, apertava na mão o aparelho, como garantia de segurança. Mas curiosamente eu adorava essa sensação: a vulnerabilidade, a solidão, o vazio.
Por exemplo, antes de cruzar os Andes, resolvi ver aquele morro de várias cores, de cuja fotografia você gostou. Para chegar até lá, tive de andar 70 km pelo deserto real. Cerca de 50 em estrada asfaltada e o resto sobre pedras soltas. No final do asfalto havia uma cabana, gerida por uma indígena. Lá havia um poço e energia por placa solar. Parei, comi uma empanada, tomei um café e conversei um pouco com ela, ouvindo como era a vida ali, naquele descampado no planalto, ao pé da montanha.
Depois resolvi subir. Foram 25 km para chegar a 4300 metros de altitude, por uma estrada vazia, com um precipício ao lado e pontas de pedras do outro. Em pé sobre as pedaleiras da moto, para maior firmeza, sentia as pedras sendo jogadas para o lado pelos pneus. E fui. Quando cheguei ao topo e comecei a andar, não tinha fôlego. Andar 20 metros nessa altitude é uma coisa muito difícil: falta o ar, a cabeça gira e dói. A gente tem de andar em câmera lenta e se concentrar.
Chegando, sentei-me a ouvir aquela solidão enorme, e só levantei quando percebi que o dia começava perigosamente a baixar. E então tive de fazer o caminho contrário, na ribanceira até a cabana da índia, que já estava fechada, e dali seguir, enquanto o sol descia muito rapidamente, até o vilarejo onde iria me hospedar, antes de seguir no rumo da parte chilena do deserto.”
Meu amigo gostou do relato intempestivo. Disse-me que eu deveria escrever mais longamente sobre essa experiência, contar tudo, complementar a viagem. Com isso ele quis dizer, eu acho, que era preciso viver outra vez, agora com palavras, aquilo que tinha sido vivência bruta e pura, pois uma coisa que eu lhe dissera na mensagem é que eu tinha feito grande esforço para não fazer mentalmente literatura ao longo do trajeto. Isto é: evitei dar forma verbal elaborada às emoções e sentimentos. Tinha mesmo feito um esforço constante de não ceder à tentação de querer fazer poesia nos vários lugares pelos quais passei. Nem à tentação de recolher as impressões com o objetivo de as transformar posteriormente em literatura.
Por isso mesmo, disse ele, agora você o poderá fazer melhor. Nesse sentido é que será um complemento – e eu quase entendi “uma superação” - da viagem.
Nos meses seguintes, foi o que fiz. Mas curiosamente não apresentei a primeira versão do livro a ele, e sim ao meu editor, que é também meu amigo. Queria uma leitura mais isenta, sem o contexto da conversa.
Decidida a publicação, aí sim a enviei ao amigo que me incentivara a escrevê-la. Na sequência, conversamos longamente durante as várias versões, nas quais eu tentava tornar mais claras ou mais próximas as coisas intuídas e vividas.
Desse trabalho, nasceu o livro há pouco lançado. Intitula-se – em homenagem ao momento intenso da contemplação do deserto e do improvável gesto de aceno, que interpretei conforme a minha própria vida, perdas e lembranças – “A Mão do Deserto”. E traz os dois primeiros destinatários ali inscritos, as duas pessoas sem as quais ele não existiria: o editor, Plínio Martins filho, com a sua chancela, que é mais do que meramente editorial; e o meu amigo Alcir Pécora, com o diálogo constante e ainda com o brilhante texto de apresentação nas orelhas da capa.
quarta-feira, 11 de agosto de 2021
quarta-feira, 16 de junho de 2021
Cesto de caquis
quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
Depoimento - Camilo Pessanha
MEMÓRIA
Quando me convidaram para participar deste volume, confessei com sinceridade que não tinha, no momento, nada mais a dizer sobre Camilo Pessanha. Ou melhor, que não tinha nada encaminhado, nem energia alguma, neste difícil momento em que se acha mergulhado meu país, para organizar o que ainda restasse de intuição de leitura ou de desejo de reparação.
Ante a resposta negativa, acompanhada de todas as desculpas que a amizade exigia, ofereceram-me a possibilidade de redigir uma memória, um depoimento sobre o trabalho que em tempos realizei à volta do poeta e sua obra.
É provável que não devesse abusar do oferecimento gentil, que devesse continuar firme na negativa, mas ocorreu-me que talvez valesse a pena registar não só as contingências do que pude fazer, mas principalmente a generosidade de tantas pessoas que encontrei ao longo dos anos. Generosidade tão notável quanto inesperada, e da qual me vali numa medida tão grande que posso dizer que nada do que pude fazer teria sido feito em outra circunstância, dada a premência do tempo e as contingências da vida.
Assim, porque a retribuição é, do meu ponto de vista, obrigação sagrada, resolvi escrever esta memória, que regista também, em certos aspectos, um mundo que já desapareceu.
Então, que seja.
1. QUE QUER DIZER ISTO?
Foi o que me perguntei sempre, ao ler Camilo Pessanha. Pela primeira vez no começo dos anos de 1970 e sempre que voltava e ainda volto aos versos, mesmo sabendo-os de cor, e tendo com eles longamente convivido em aulas, palestras, artigos e livros.
Quando iniciei os estudos de pós-graduação, dediquei-me à poesia concreta brasileira. E na sequência, querendo entender como funcionava o ideograma numa língua em que ele era moeda corrente, dediquei-me ao estudo do japonês. Daí passei ao haicai e às leituras sobre assuntos orientais. E ali voltei a encontrar, por outro caminho, o poeta.
No Brasil, a formação universitária naquela época tinha um ritmo lento. Foram 5 anos para obter um mestrado. E era comum que as pessoas demorassem outros 10 para terminar um doutoramento. Por isso mesmo, não tive pressa. Ao sabor dos interesses, deparei-me com Oliveira Martins, e nele e na Geração de 1970 permaneci um bom tempo. Tempo no qual Camilo Pessanha era apenas um dos poetas que integravam o programa da disciplina que ministrava na Unicamp e sobre o qual me dedicava, de tempos em tempos, a pensar de modo mais sistemático.
Na segunda metade dos anos de 1980, decidi escrever um ensaio sobre o poeta. Poderia ser um artigo, um livro avulso (como o que tinha feito sobre haicai), ou talvez mesmo uma tese de doutoramento. E como a carreira exigisse em algum momento o título, resolvi que, sim, faria uma tese sobre o poeta. Finalmente levaria a cabo um esforço consequente de leitura.
Entretanto, após a consulta ao que havia disponível no Brasil, um problema logo se apresentou: o cotejo das várias edições da Clepsydra trazia problemas de todo o tipo quanto ao “livro”, isto é, o desenho geral de um conjunto que o organizador afirmava ser projecto do autor. Mas qual seria esse livro? O de 1920, o de 1945 ou o de 1969? Além disso, no começo de 1985, a publicação de um número especial da revista Persona trouxe estudos, manuscritos, depoimentos e versões de poemas depois incluídos na Clepsydra, que me fizeram desistir de usar as edições “canónicas" como base do futuro ensaio interpretativo. Na sequência imediata, a publicação do “Caderno poético” numa versão pouco legível, em 1986, fez-me suspeitar ainda mais das edições correntes, tanto no que diz respeito à lição dos poemas, quanto à organização deles em conjunto significativo.
Por isso mesmo, decidi, antes de tentar saber o que queriam dizer aqueles poemas, saber o que eles eram, do ponto de vista da confiabilidade textual. Pensava que seria uma etapa difícil, mas breve, e por isso fui a Portugal pela primeira vez, por um mês, em Julho de 1989.
2. A SORTE
Em Portugal conhecia apenas uma pessoa, Teresa Sobral Cunha, com quem me encontrei no Brasil, por ocasião do centenário pessoano. E creio que o facto de ela ter sido o meu primeiro e mais duradouro ponto de referência em Portugal tem grande importância para a definição dos rumos da minha investigação.
Além da Teresa, tinha tido contacto por carta, por conta de uma publicação sobre Wenceslau de Moraes e o haicai, com Joana Varela, editora da Colóquio-Letras. E foi por intermédio da primeira que marquei uma entrevista com a segunda, a quem expus o que me trazia a Lisboa.
Joana Varela foi a primeira pessoa que me falou de outro estudioso da obra de Camilo Pessanha: Gustavo Rubim. Disse-me ela que eu precisava de conhecê-lo, falou-me com entusiasmo do seu trabalho sobre Pessanha. Mas daquela vez não foi possível encontrá-lo.
Foi também Joana que me pôs em contacto com meu primeiro benfeitor no caminho do poeta: Luís Amaro. Telefonou-lhe, disse que estava por ali um brasileiro interessado em escrever uma tese sobre Pessanha, pediu-lhe ajuda e marcou o encontro para o dia seguinte, porque o tempo era curto.
“Estou trabalhando para si. Aguarde só um momento”. Foi assim que o encontrei, debruçado sobre a máquina de escrever, terminando de dactilografar. E na sequência entregou-me, em várias páginas, uma longa lista de artigos em jornal e em revista, além de capítulos de livros sobre Camilo Pessanha, bem como de material iconográfico. Era o que ele conhecia e tinha catalogado, disse, apontando vagamente para um grande ficheiro. E acrescentou, com a modéstia bem conhecida, que talvez não ajudasse, pois eu provavelmente já conheceria os textos principais. Mas ia permitir talvez alguma economia de tempo de pesquisa.
Evidentemente, eu pouco conhecia daquilo tudo. Principalmente o que tinha vindo em jornais e revistas portuguesas. E a listagem de facto economizava-me, de modo quase mágico, uma semana (ou talvez mais) de trabalho na Biblioteca Nacional. Creio que não tornei a vê-lo depois desse dia. Mas por mais que tenha agradecido, não creio que o tenha feito de modo suficiente.
Luís Amaro disse-me ainda que eu devia procurar um estudioso da obra de Pessanha, que vivera em Macau e estava a organizar uma edição crítica. Chamava-se Daniel Pires, mas aparentemente tinha voltado a Macau. Que eu não me esquecesse de tentar contactá-lo, pois o que eu buscava, em termos de obter textos fidedignos sobre os quais escrever, ele certamente teria, ou estaria prestes a ter.
Como o outro, este também foi uma presença fantasmática ao longo dos dias daquele mês no qual eu começava ao mesmo tempo a perceber que a tarefa que me propusera seria mais difícil e ampla do que pensava, e alimentava a esperança de que o trabalho essencial já estivesse feito e eu dele pudesse valer-me.
Das leituras que tinha feito no Brasil e em Portugal, dois nomes me pareciam centrais para o que eu queria: Carlos Amaro, que inclusive teria projectado publicar os poemas de Pessanha numa plaquete, e Danilo Barreiros, que descobrira o “Caderno” e conhecera o parceiro do poeta na tradução de textos chineses, José Vicente Jorge. O primeiro tinha falecido em 1946; o segundo, pelo que soube, vivia em Lisboa.
A minha impressão de Portugal, nesse primeiro contacto, era de que se tratava de um país muito tradicional, no qual as mudanças se processavam lentamente. Era talvez uma impressão errada, mas valeu-me de muito. É que, pensando assim, fui ao catálogo telefónico da pensão onde me hospedava e busquei Carlos Amaro. No Brasil, jamais faria isso: procurar o nome de uma pessoa falecida há mais de 40 anos. Mas em Lisboa tudo parecia possível e atendeu-me uma senhora, que se identificou como Henriqueta Rodrigo, filha de Carlos Amaro. Expus-lhe o que me trazia a Lisboa, ela disse-me que tinha, sim, algumas coisas de Pessanha com ela. E no dia seguinte visitei-a, pelo fim da tarde.
Não exagero ao dizer que a visita foi um choque. Tomámos chá, conversámos um pouco. Ela pareceu ter real interesse em conhecer os projectos e motivos do brasileiro que estudava Pessanha e que não tirava os olhos da parede. E então permitiu-me ver o que lá havia. Emoldurados como quadros, dois manuscritos. Um, do poema intitulado "Violoncelo"; outro de um poema sem título, que nas edições canónicas se chamou “Final" ou “Poema final”.
Ambos traziam revelações. ”Violoncelo”, porque estava escrito na nova ortografia, diferentemente dos demais que Pessanha deixara registados, o que indicava que era posterior; e também porque na última estrofe havia uma inversão de versos, pois o poema terminava com a palavra “despedaçadas”. O outro, que era na verdade uma versão anterior à que já tinha visto no conjunto de manuscritos de 1915, depositados na Biblioteca Nacional, trazia uma indicação preciosa: “(Última página de um livro em tempos delineado)”.
O mais impactante naquele momento, porém, foi “Violoncelo”. Por isso comentei com D. Henriqueta a diferença da versão conhecida. E ela disse-me: “Meu pai sempre declamou assim, e dizia lentamente des-pe-da-ça-das, como se despedaçando a palavra”. Quando lhe disse que parecia uma versão mais nova do que a que conhecia, ela disse que devia ser, pois fora enviada da China para seu pai, depois do regresso de Pessanha. E acrescentou que, como eu podia ver, era papel “for post”.
Na sequência, disse-me que havia ainda muita coisa, e trouxe uma caixa com cartas do poeta, que me deixou rapidamente espiar. Explicou que estava a transcrevê-las, que Pessanha era muito maledicente, nomeava pessoas, falava mal delas. Na sua transcrição, ela suprimia os nomes, pois o pai não gostaria que aquilo transpirasse, pois ter-se-ia sentido cúmplice.
E não foi muito mais. Perguntei-lhe sobre Daniel Pires, que ela conhecia bem. Estava ele em Macau, mas ele conhecia tudo aquilo e muitas outras coisas. E por fim aconselhou-me a saber como encontrar-me com Daniel, pois era a pessoa que mais parecia conhecer o poeta e a sua história.
Animado com a descoberta, no dia seguinte repeti o procedimento: busquei na lista Danilo Barreiros. E foi ele mesmo que atendeu.
No dia seguinte, pelo fim da tarde, quem me abriu a porta foi sua mulher, D. Henriqueta, ex-aluna de Camilo Pessanha e filha de José Vicente Jorge.
A casa de Danilo Barreiros era uma parte da China incrustada em Lisboa. Havia quadros, estatuetas, dúzias de objectos chineses e um grande Buda de bronze perto da porta de entrada. E sobretudo havia aquelas duas personagens das histórias lidas, uma mulher elegante, reservada, e um homem de energia esfuziante e de um entusiasmo que contagiava.
Perguntou-me o que eu tinha vindo fazer a Lisboa, qual o interesse específico. E quando, de passagem, lhe disse que também tinha estudado Wenceslau de Moraes, pareceu impressionado. Mais ainda quando lhe disse que tinha lido os livros dele. Por fim, não se conteve quando me perguntou se havia livros seus em São Paulo e eu disse que não, que tinha ido ao Rio de Janeiro, onde os encontrei na Biblioteca Nacional. “Henriqueta, – gritou – este senhor viajou 400 km para ler os meus livros!”.
Não faria parte desta narrativa o que sucedeu a seguir, não fosse por um desdobramento, para além de afectivo, literário. E foi o seguinte: Danilo, no meio da conversa, pediu-me que me levantasse de onde estava, ao lado do Buda, e me sentasse numa cadeira de espaldar recto em frente a uma janela. Fiz o que pedia, mas não era suficiente: “de perfil para mim, por favor”. Sou um sujeito cordato, e assim me pus. E então ocorreu algo realmente inesperado. Disse-me ele: "o senhor é judeu!”. Que eu soubesse, não – respondi. Talvez árabe, por parte de avô. Não, insistiu ele: judeu, pela linha da testa ou do nariz ou do queixo - não me lembro bem. Eu queria voltar logo ao Pessanha, então me resignei com a análise e disse que talvez. Mas ele insistiu no questionamento: tem antepassados portugueses? Uma avó, respondi. Como se chamava? Teresa Barreira, eu disse. De onde? – ele perguntou, com muita animação. E eu disse o que sabia: de alguma aldeia em Trás-os-Montes.
Danilo exultou. Disse-me que éramos da mesma família: Barreira e Barreiros eram o mesmo, como se via em tal livro que apanhou na estante. E proclamou, afinal: “Somos primos!”.
Na sequência, chamou D. Henriqueta e apresentou-me como membro da família. Confesso que ela não pareceu nem muito animada, nem muito convencida. Mas não recusou o que ele lhe pediu a seguir: uísque, para celebrar, enquanto ligava para o filho, Pedro Barreiros, que tirou do trabalho para conhecer o primo brasileiro.
Pedro, com quem depois trabalharia e a quem devo tantas coisas, inclusive o convite para escrever o livro O Essencial sobre Camilo Pessanha na colecção da Imprensa Nacional, pareceu a princípio preocupado com o parente súbito, mas logo, por algum motivo, se tranquilizou e voltou ao que fazia.
E ali ficámos os dois, ainda a falar de Moraes e de Pessanha e de José Vicente Jorge e de Danilo Barreiros.
Danilo sofria de gota, mas a ocasião merecia o uísque. E junto com o uísque vieram lembranças, histórias de Macau e do Rio de Janeiro, e muitas outras coisas preciosas: um enorme álbum de recortes com tudo o que ele tinha coligido ao longo da vida sobre Moraes; o mesmo sobre Pessanha, e os seus próprios livros. Um deles, sobre Moraes, precisava de ser reeditado. Que eu o retomasse, ampliasse com a parte do haicai e outras que eu saberia melhor sobre o Japão, e que o publicasse no Brasil, com ambos os nossos nomes na capa! Por fim, o melhor: os manuscritos. O rascunho do “Vida” e outros, em originas e cópias. Tudo!
Ali conversámos longamente e bebemos longamente, até D. Henriqueta, preocupada com o excesso, delicadamente pôr fim à tertúlia. Antes que eu saísse, porém, Danilo ajuntou tudo aquilo em duas grandes sacolas – tudo, inclusive os manuscritos e os rascunhos de trabalhos seus. Agarrou nelas e quando me levou à porta, pediu-me que levasse aquele material, que o examinasse e usasse o que me conviesse. E depois devolvesse.
Voltei naquela semana uma vez à casa de Carlos Amaro, com uma garrafa e alguma esperança, porque o uísque era algo que a filha também apreciava e eu queria partilhar um final de tarde à sombra dos manuscritos. E também queria fazer uma fotografia do manuscrito do “Violoncelo”. Felizmente tivemos uma bela tarde de conversa, infelizmente não fui autorizado a fotografar o manuscrito. O que me valeu no futuro alguns dissabores, pois como registei sempre, como base, a última versão conhecida de cada poema, fiz o mesmo com o “Violoncelo”. Mas sem provas da sua existência, apanhei um pouco, sem poder retrucar e exibir o documento. Hoje o autógrafo está na Biblioteca Nacional, mas não permaneceu inédito: assim que D. Henriqueta faleceu, ele surgiu numa edição brasileira dos poemas de Pessanha, graças a Daniel Pires, que dele sacou, em certo momento de descuido da proprietária, para ma oferecer, uma fotografia sorrateira.
À casa de Danilo voltei várias vezes, porque ficámos amigos e eu lhe pedi algo que faria bem a nós dois: que me ditasse as suas memórias.
Danilo tinha uma memória fabulosa e o dom da oratória. Dia após dia, por uma ou duas horas ditou-me a vida desde a infância, inclusive alertando para a necessidade de vírgulas, quando achava que não estava claro o ritmo da frase. Como piorasse da gota e eu tivesse de voltar, encerramos em 3/4 do tempo vivido. O restante 1/4 enviou-me depois ele, ainda com o vocativo de “querido primo”, para o Brasil. Mas do que me disse sobre Pessanha, como jurista e como sinólogo, disso tomei notas tanto quanto pude.
Do material que me deu, fiz fotografias. Do que me disse, também, mentais. Mas lamentei muito não ter um gravador. Não só para registar o que ele me disse, mas principalmente (porque ele escreveu, mas ela não), o que me disse D. Henriqueta sobre Pessanha, seu professor.
E o que ela me disse confirmava o que eu já tinha imaginado pelas fotografias que vira e pelo relato do seu enterro: era um homem da sociedade macaense, respeitado, elegante; almoçava pelo menos uma vez por semana em casa de seu pai, e estava sempre perfumado, com um lenço de seda no bolso. Disse-me que se sentava na primeira fileira, na classe, e que ali também o encontrava sempre bem vestido e perfumado. Por fim, que era um excelente professor. Em suma, desmentia com empenho a legenda miserabilista que se construíra sobre o homem. Era alguém importante na comunidade, repetiu-me. Poucos meses após falecer, uma rua ganhou o seu nome. E tudo estava de acordo com o que eu mesmo intuía ou ia descobrindo, e poderia constatar quando fosse a Macau, dois anos depois.
3. O ACASO
Tendo estudado no Brasil o que levara da primeira viagem e sistematizado o material disponível, ainda não sabia bem o que fazer.
Já nessa altura estava matriculado no curso de doutoramento sob orientação de Maria Helena Garcez, e tinha cursado as disciplinas necessárias. Ainda queria fazer um ensaio. Mas processava os textos, em busca do que me parecia a versão mais fidedigna.
Teresa Sobral Cunha insistira em Lisboa e continuava a insistir por cartas para que eu fizesse uma edição crítica da poesia de Pessanha – o que me parecia, naquele momento, um desvio. Além disso, não tive formação filológica. Agora, no Brasil, a minha orientadora sugeriu o mesmo. Viu que eu tinha uma tese, que era a de que as edições feitas pelos Osórios não se sustentavam, principalmente no que diz respeito à forma do livro, isto é, ao desenho temático ou formal que o volume pressupunha. E aconselhou-me a expor e defender essa tese, embasado no que eu tinha descoberto nos autógrafos.
A princípio a ideia desagradou-me. Indeciso, acabei por continuar, porém, mas ainda sem propósito de tese, o que vinha fazendo: anotar todas as variantes conhecidas de cada poema, tendo como referência a última versão conhecida. Para isso tinha criado um programa de computador, que processava os registos a partir de todos os textos que eu tinha digitado. Destacadas as variantes, submetia-as a um sistema de notação que tinha inventado e que me parecia deixar visíveis as etapas da composição. Tinha feito isso com os poemas que pretendia analisar, que eram poucos. Mas estava tudo a meio caminho com os demais, pois a obra era pequena.
Foi então que o acaso interveio: uma norma implantada de súbito na Unicamp determinou que em 3 anos todos os professores com título de mestre tinham de obter o título de doutor, caso contrário não poderiam manter o regime de tempo integral, nem o salário correspondente.
Em decorrência dessa ameaça, resolvi aceitar a ideia de apresentar o trabalho com os poemas, precedido de um longo debate e análise das edições canónicas, com vista à afirmação da tese de que nenhuma daquelas edições deveria, nem mesmo a primeira, ser considerada edição de autor – apesar da carta em que Pessanha agradecia a Ana de Castro Osório a publicação do livro.
E para poder avançar nesse trabalho, inclusive cotejando as minhas cópias manuscritas com os autógrafos disponíveis, regressei a Portugal, por mais 5 meses, em 1991.
4. A OUTRA PARTE
Quando cheguei a Lisboa, soube que havia uma exposição sobre Camilo Pessanha, em comemoração dos 70 anos de publicação da Clepsydra. A exposição tinha vindo de Macau, e fora organizada por Daniel Pires.
Fui imediatamente, no dia seguinte, à Casa de Macau, para a suprema decepção de saber que a exposição terminara há dois dias. Expus então a quem me atendeu, sem nada tentar ocultar, o desespero que me invadiu. Principalmente depois que vi o catálogo. Expliquei que chegara do Brasil na véspera, disse que já tinha estado em Portugal a estudar o Pessanha, que queria muito conhecer Daniel Pires, perguntei-lhe ainda se sabia se ele estava em Portugal, e talvez tenha dito mais coisas, porque a boa senhora me disse que Daniel Pires não morava em Lisboa, mas ia telefonar-lhe e, se ele permitisse, me deixaria dar uma espiada no material. “Qual é mesmo o seu nome?”, perguntou antes de fechar a porta.
Logo depois foi-me aberta essa mesma porta e a excepção – e eu pude então olhar aquilo tudo. Manusear tudo. Assim como no espólio de Pessanha. Não era ainda o tempo dos microfilmes, nem das cópias digitais. Na Biblioteca, as duas caixas com as coisas do poeta foram-me trazidas certo dia, na sala de leitura da secção. E ali ficaram, dias a fio, enquanto eu as utilizava. Ninguém a vigiar, ninguém a perguntar ou regular coisa alguma. Foi só quando terminei o trabalho que as recolheram e guardaram. Agora aquilo repetia-se, com o que acabava de ser exposto e ia em breve voltar para o lugar de origem.
No material da exposição, interessaram-me especialmente as fotografias. Com elas o curador fez cartões postais, de óptima qualidade. E a bibliografia do catálogo era realmente fantástica. Olhava para aquilo tudo e comovi-me a ponto de chorar, pois as fotos, os documentos, tudo aquilo transpirava um carinho com o poeta e um desejo de verdade que ecoavam fortemente em mim.
Quando percebi uma sombra ao lado, ergui os olhos. Vi um senhor com um ar de interesse misturado com espanto. Perguntou-me algo, com voz tímida. Algo como se estava a achar interessante. E apresentou-se: Daniel Pires. Deve ter sido um momento estranho para ele. Circunspecto e tímido, não deve encontrar todos os dias um brasileiro com os olhos embaçados, muito menos um que corre a abraçá-lo, agradecendo-lhe efusivamente a permissão de ver a exposição e, sobretudo, o trabalho magnífico com a memória do poeta.
Quando visitei Daniel em sua casa, em Setúbal, mostrou-me ele o muito que coligira em anos de dedicação. Pastas e mais pastas com fotocópias e anotações manuscritas. Tudo o que encontrara, em Portugal e em Macau e em outras partes, sobre e de Pessanha. Contei-lhe o que estava a fazer, ele disse-me que tinha tido notícias por Pedro, Danilo e Joana. Ofereceu-me o que eu precisasse.
Daniel planejava fazer uma edição crítica da poesia de Camilo Pessanha. Para isso tinha buscado tudo que encontrou. E ainda havia mais, e ainda parece que há mais – até hoje há mais, mas se ele não encontrou, provavelmente é porque alguém não quer que seja por enquanto encontrado.
Naqueles dias, ele aos poucos foi copiando tudo que achava que me podia interessar. E um dia por fim disse-me que eu deveria fazer a edição crítica, que ele pensara nisso, mas estava envolvido em muitos outros projetos, não tinha tido tempo, nem disposição. Achava que eu podia fazer um bom trabalho, então que fizesse. E contasse com ele. Como de facto contei, até o ponto de ter declarado várias vezes, por escrito ou de viva voz, que, não fosse a sua confiança e incrível generosidade, não teria feito o que fiz no prazo de que dispus.
O que me faltava naquele momento, dado o tipo de trabalho que fazia (registo verso a verso, palavra a palavra, das intervenções de Pessanha), era então, por conta da generosidade de Danilo e Daniel, pouca coisa: consultar os autógrafos do Caderno, em Macau. E outra vez pude valer-me da amizade de Joana Varela, a quem manifestei o desejo de ir à China. Ali mesmo, com a mesma agilidade e facilidade com que agendara a entrevista com Luís Amaro, marcou-me ela uma reunião com Alçada Baptista, na Fundação Oriente.
A reunião, no dia seguinte ou dois dias depois, foi rápida. Perguntou-me o que eu estava a fazer, o que queria fazer, por que queria. E quando lhe disse, perguntou: quando quer ir? E três dias depois embarcava eu para Macau.
Duas semanas mais tarde, voltei à Fundação Oriente, com um longo relatório dos trabalhos realizados. Alçada Baptista recebeu-me, curioso para saber o que eu tinha conseguido. Contei-lhe tudo, ele perguntou-me disso ou daquilo, falámos um pouco de Pessanha e dos seus leitores. Por fim, disse-lhe que trouxera o relatório. No relatório eu tinha escrito o que lhe tinha contado, não era verdade? Foi o que me perguntou. Eu disse que sim, talvez com mais detalhes. Então já não era preciso relatório algum: ele tinha ouvido o que eu tinha feito, tinha ficado satisfeito com o resultado e só lhe restava desejar que eu fizesse um bom trabalho e que a obra do Pessanha tivesse finalmente o cuidado que merecia. E não nos tornámos a ver.
5. O TRABALHO
A tese que resultou não era uma edição crítica. Era um arrazoado sobre a história editorial, que trazia em apêndice os poemas conhecidos, com todas as suas variantes, tendo por texto-base a última versão autoral conhecida. Intitulou-se justamente “Clepsidra de Camilo Pessanha - uma proposta de edição”. E foi isso que apresentei, algum tempo depois, à Editora da Unicamp: um livro com esse exacto título.
Na verdade, o título não era muito correcto, porque a proposta de edição consistia, naquele momento, em recusar as edições correntes. O que quer dizer que consistia em recusar uma edição definitiva de minha parte, bastando-me a satisfação de oferecer a futuros editores um grande e organizado banco de dados, do qual cada um poderia extrair o que melhor lhe parecesse, tendo sempre à mão a informação do que era autoral e do que não era, em cada poema, bem como as várias versões que cada um teve ao longo do tempo. Ou seja, a minha tese não trazia, no final das contas, uma proposta de edição. Só um desmonte das que havia.
A edição campineira foi um desastre. Gralhas, interferências absurdas do revisor, ausência de revisão de provas pelo autor. E foi também um erro no que diz respeito ao título. Ainda tentei uma solução intermediária, “Poemas de Camilo Pessanha - uma proposta de edição” – que tampouco era um bom título, pelo motivo acima. Acabei por aceitar o argumento editorial – do qual depois já não me livraria – de que deveria intitular o conjunto com o nome tradicional do livro de 1920 e seguintes.
A edição portuguesa foi a brasileira totalmente expurgada dos erros grosseiros devidos à composição e revisão selvagem, e acrescida de alguns poucos dados novos, recentemente revelados. E manteve o título.
Dezasseis anos depois, quando penso no livro publicado não tenho a certeza se fiz bem em publicá-lo. Quanto ao trabalho que ele traz com os poemas, não conseguiria fazê-lo melhor hoje, porque os dados continuam os mesmos e estão ali anotados com clareza e com tanta correcção quanto me permitiram as minhas capacidades. Nem creio que, com o mesmo objectivo, alguém poderia fazer melhor essa tarefa, afinal de contas simples, a que me dediquei: registar todas as variantes autorais, em sequência temporal.
No que toca ao debate sobre a pertinência das edições dos Osórios, continuo disposto a defender os argumentos ali apresentados, pois até hoje não vi refutação racional e convincente de nenhum deles. Mas a junção do banco de dados com a apresentação, e a necessidade de dar a versão autoral mais recente como texto de leitura, para sobre ela marcar em apêndice as variantes, talvez tenha produzido alguma confusão. O ponto era que eu precisava de dar uma disposição sequencial dos poemas, já que seriam apresentados em folhas encadernadas. Fosse um livro em folhas soltas, esse problema poderia ser amenizado, pois eu poderia simplesmente dispor um poema no anverso e a anotação das variantes no verso. Mas mesmo assim um problema persistiria: em folha solta ou não, a última versão autoral é a que se apresenta à leitura – e desse critério, não abri mão, pelos motivos que expus no arrazoado crítico. Ora, o problema é que, se essa era uma opção de apresentação do trabalho editorial, nem por isso era uma escolha de versão preferencial a oferecer ou impor ao leitor.
Por exemplo, vejamos o caso de “Violoncelo”. Li, ouvi e decorei o poema na versão em que se mantém invariável a estrutura estrófica, o esquema de rimas. A versão mais nova – que é a que Carlos Amaro declamava – além de trazer variantes de pontuação e troca de uma palavra no verso 16, subverte o esquema das rimas na última estrofe. É possível atribuir sentido a isso: o despedaçamento dá-se inclusive na forma. Provavelmente por efeito do costume, talvez eu prefira a versão anterior. E certamente, a julgar pelas reacções de um amplo espectro de leitores, é a preferida da maioria. Mas independentemente do que fosse o meu gosto ou do que é o gosto geral, essa versão mais antiga e publicada na Clepsydra, é aquela que, por conta do princípio norteador do trabalho, não é a que eu me poderia permitir apresentar como texto de base – e, portanto, como texto oferecido à leitura imediata.
Quanto à apresentação dos poemas no livro físico, a minha opção foi eliminar radicalmente qualquer princípio interpretativo na disposição sequencial. Isso está explícito no texto de apresentação, mas nem sempre parece ter sido compreendido. Porque um leitor distraído – e são muitos – pode acreditar que eu propus uma ordenação cronológica dos poemas de Camilo Pessanha. E nada mais longe do meu propósito. O que de facto fiz foi organizar os poemas pela data do seu primeiro conhecimento. Da sua primeira datação possível. Assim, se de um poema como “Ó Magdalena, ó cabellos de rastos…” só nos chegou a notícia e o texto da sua publicação em jornal, é na data correspondente a essa publicação (13/12/1890) que ele vai comparecer no livro. Já um poema como “Violoncelo”, cuja primeira versão vem datada de 1900, fica, no livro, junto com outros dessa data, mesmo que entre a primeira versão e a última, posterior a 1916, haja diferenças enormes.
A conjugação desses dois critérios (forma de anotação de variantes e apresentação dos poemas por data de conhecimento) entende-se e justifica-se quando se considera que a publicação não visava estabelecer um texto definitivo, muito menos um desenho de livro significativo. Pelo contrário, como lá explicitava, “a partir deste trabalho poder-se-á proceder, na leitura ou em publicações de diferente natureza, a novas ordenações e seleções, temática ou formalmente mais significativas, que pessoalmente não me julgo capaz de fazer, nem me sinto tentado a experimentar”.
Essa observação só não era por inteiro verdadeira porque houve um momento em que me senti tentado a experimentar uma nova ordenação.
É que descobri, no verso de um recorte colado à contracapa da primeira edição da Clepsydra, a lista dos poemas a recolher. Uma lista numerada, que em nada batia com a ordem da primeira edição, a começar pelo facto de que não dividia os poemas em sonetos e não-sonetos. Mas havia dois problemas com a lista: o primeiro é que ela era muito breve, dava conta de poucos poemas. É certo que esse problema eu poderia tentar resolver, adivinhando ou propondo, a partir do desenho da parte, o desenho do todo. Mas o segundo problema eu não consegui imaginar como resolver na época: os autógrafos traziam dípticos de sonetos. Alguns dos mais belos sonetos de Pessanha formavam dípticos, claramente indicados nos autógrafos e em outras publicações. Mas, na lista dos poemas a incluir, sonetos que formavam dípticos apareciam isolados! Isso pareceu-me um obstáculo intransponível, e desisti de sequer tentar uma reconstrução arqueológica do livro perdido!
E foi bom talvez que eu assim pensasse na época e não soubesse mais. Porque, caso contrário, eu poderia nunca ter terminado o trabalho de doutoramento a tempo, envolvido com a tarefa (impossível de justificar, num trabalho destinado à arguição) de imaginar o desenho do livro perdido.
Hoje talvez fosse diferente. É que, como disse, na época em que o descobri, o papel estava colado na contracapa do livro. E eu limitei-me a ler contra a luz o que pude, sem violentar o documento. Com o tempo e o manuseio do livro, porém, pessoas menos cuidadosas podem ter propiciado a revelação: na frente de cada um dos sonetos que deviam formar dípticos havia um sinal de +. Sinal que eu não pude ver, quando adivinhava as letras pelo reverso do papel. De modo que a lista passou a fazer mais sentido, e eu talvez não pudesse – se a tivesse descolado e lido – fugir à tentação que tive, mas disse que não tive, por ela ser fraca e desprovida de esperança, no momento.
6. O DEPOIS
Tendo feito o trabalho preliminar, passado algum tempo comecei a redigir, sobre os escombros da Clepsydradesmontada, uma leitura de alguns poemas. Num primeiro momento, fiz o que me parecia o mais lógico: ler um mesmo poema ao longo do tempo, observar as suas transformações, tentar discernir a poética implícita nas sucessivas alterações.
Desse trabalho nasceu o livro intitulado Nostalgia, exílio e melancolia - leituras de Camilo Pessanha. Tentando ver na melancolia e na nostalgia duas atitudes líricas, dois modos, percorro alguns poemas, alinhavando-os com o tema do exílio, recorrente na poesia e na prosa de Pessanha. O texto original era digressivo, um tanto parafrásico, talvez por conta ainda das leituras de juventude, no seu maravilhamento. Para apresentação em tese de agregação (livre-docência) e em livro, fui enxugando-o de tal modo, eliminando as conexões dispensáveis e tudo o mais que que me pareceu supérfluo, que resultou num conjunto de capítulos duramente elípticos, argumentativamente cerrados, pesadamente descritivos. Mas para o fim a que se destinavam, que era tentar verrumar aqueles textos que há tantos anos me obsidiavam, teve em mim um efeito terapêutico. Não imagino se o ensaio traz algo novo e proveitoso ao leitor que por acaso dele se aproxime, disposto a enfrentar a pedreira que ele acabou por ser. Mas sei o que ele representa, ao menos para mim: uma tentativa de leitura sem as muletas habituais, seja dos contextos sociais, seja dos famigerados estilos de época, seja – por fim – dos últimos gritos sempre efémeros da Teoria.
Na sequência, pouco fiz sobre o poeta a quem terminei por dedicar tantos anos. Algumas tentativas de explicar o sentido do trabalho de busca e consideração de variantes, algumas defesas a ataques tão mais virulentos quanto menos qualificados, algumas leituras isoladas de poemas e um estudo um pouco mais demorado da vida de Pessanha, destinado a desmontar as absurdas ficções biográficas que parecem tão resistentes quanto o mito do poeta sem escrita.
Ou seja, olhando desde este ponto de vista, o meu trabalho foi essencialmente um trabalho de desmontagem, de desbaste. Gostaria de poder estar convicto de que foi um trabalho de utilidade geral. Mas nesta altura da vida contento-me em pensar que foi um trabalho sério, sem outro objectivo que não fosse a fidelidade ao que se me apresentava como razoável ou como verdadeiro.
7. O AGORA
Mas a história da Clepsydra como desafio ainda não estava terminada. Como disse acima, só depois de findo o trabalho, alguém – no caso, Ilídio Vasco – me enviou a informação de que a lista dos poemas estava descolada do livro, e que agora se via um sinal + após os seguintes versos, que indicavam poemas: “Se andava no jardim”, “Passou o outono já, já torna o frio”, “Desce em folhedos tenros a colina”, “Singra o navio. Sob a água clara”, “Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho”, “Imagens que passais pela retina”.
Essa revelação foi importante, por dois motivos: primeiro, porque resolvia a conflito entre a listagem e os autógrafos, já que nos autógrafos havia claras indicações de sequência, indicações de que vários sonetos deviam vir agrupados dois a dois. Agora, com o sinal de +, era possível saber onde se inseriria, na distribuição ideal do livro, cada conjunto; segundo, porque confirmava a suspeita de que se perdera um soneto, que fazia par com “Quem poluiu”, e um poema, que fazia par com “Se andava no jardim”.
Quando organizei a edição da poesia de Pessanha para a Ateliê editorial, no Brasil, não ousei propor nada diferente do que fizera na edição que saiu pela Relógio d’Água. Apenas anotei a novidade do que havia no verso da folhinha colada no livro de 1920. Entretanto, alguns anos depois, mais exactamente em 2018, quando aceitei organizar o texto dos poemas para a editora Lisbon Poets, resolvi propor um novo arranjo. É que as edições anteriores, que sempre considerei edições de trabalho, repositórios de informações, começavam e terminavam a apresentação dos poemas, como dito acima, pela ordem do seu conhecimento. Ora, o objectivo da Lisbon Poets era apresentar o poeta ao público internacional. O texto que eu proporia, na ordem em que o propusesse, serviria de base para as edições bilíngues em inglês, espanhol, francês, chinês, italiano, etc. Considerando que não valia a pena começar pelos poemas mais juvenis, e sem aceitar a ideia de que poderia propor uma sequência estribada apenas no meu gosto pessoal, lembrei-me do desafio da lista fragmentária. E assim fiz: o livro resultante tem duas partes bem marcadas. Na primeira, recompõe-se (embora com as lacunas dos dois textos perdidos que fariam díptico com os que estão listados) aquela parte do livro que Pessanha indicou aos editores. Na segunda, vêm os demais poemas, na ordem do seu conhecimento, como nas edições anteriores.
Sei que qualquer proposta de ordenação dos poemas que não se escore na primeira edição de 1920 causa estranheza. Porque é do hábito. Mas não só a divisão do livro em “sonetos” e “poesias” parece absurda, tendo em vista a crítica que Pessanha fez a igual solução em livro de um contemporâneo, mas também fica claro, nos comentários de João de Castro Osório, que a publicação de 1920 fora feita com o que havia à mão. Tanto que ele não só alterou a ordem das peças, como ainda foi acrescentando ao núcleo original tudo o que encontrou posteriormente.
Ainda a respeito dessa questão, gostaria de apresentar um último argumento. Que é bem racional, embora tenha ocorrido num sonho, cuja narrativa não deve causar espanto neste texto de carácter tão pessoal... Um sonho que me ocorreu na véspera de uma conferência realizada na Sociedade de Geografia de Lisboa. Eu falaria, mais uma vez, sobre a edição dos poemas. E já previa a contestação em duas frentes: a dos tradicionalistas, que se aferram à edição de 1920, e a de quem pudesse acusar-me de não ter proposto uma ordenação ideal, não ter reconstruído de alguma forma o “livro”, excluindo as partes mais fracas da produção do poeta e destacando as mais fortes.
Talvez porque me visse obrigado a repetir os argumentos, sonhei que se me apresentavam, em desfile perante os olhos, capas de vários livros de poemas. Antero de Quental, Sonetos; Eugénio de Castro, Oaristos; Alberto Osório de Castro, Flores de coral; António Nobre, Só; Guerra Junqueiro, Os simples. E depois, só duas: O livro de Cesário Verde, e Clepsydra – poêmas de Camillo Pessanha. Depois de acordado, ainda me ocorreu, quando percebi o que eu tinha mostrado a mim mesmo no sonho, um outro exemplo: Os sonetos de Anthero de Quental publicados por J. P. Oliveira Martins. É que este último exemplo completa os anteriores e é explicativo do sonho inteiro: quando Antero publica seus sonetos ele mesmo, a assinatura vem no alto da capa; quando Oliveira Martins organiza a obra do amigo, o lugar da assinatura – o alto da capa – fica vazio. Assim também se dá com Cesário: o seu nome não ocupa a posição que responde pela autoria do livro. E com Camilo Pessanha. Ana de Castro Osório poderia ter inscrito o seu: Clepsydra – poêmas de Camillo Pessanha publicados por... Não o fez, certamente por modéstia. Mas indicou claramente o que o livro era: uma colecção de poemas que ela organizara – e organizara, como disse tantas vezes o seu filho, com o que tinha, uma vez que Pessanha nunca enviara de Macau os demais poemas que a ela prometera.
Hoje celebramos os 100 anos desse gesto amoroso, que foi a recolha e publicação em volume, por Ana de Castro Osório, dos versos de Camilo Pessanha. Sem ela, não sabemos o que hoje seria a memória do poeta. Devemos-lhe todos muito. Mas que esta homenagem não seja motivo, nesta data comemorativa, para atribuir à edição de 1920 outro estatuto além do que lhe cabe: recolha, ajuntamento, salvamento da memória. Já é suficiente glória. E merecida. Não precisamos de ir além.
* In: Catarina Nunes de Almeida (org.) Clepsydra 1920-2020 - estudos e revisões. Lisboa: Documenta, 2020.
